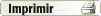Abaixo, todos os artigos semanais que este autor publicou no Valor Econ√īmico em 2010. Para os anos seguintes,¬†a sequ√™ncia de¬†artigos de conjuntura pode ser vista, na √≠ntegra, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021¬†e 2022.
Para um exame de todo o ciclo do petismo no poder, vejam-se os textos a partir de A história absolvida.
O complexo do Alem√£o e a rep√ļblica (27 dez.)¬†
Com o epis√≥dio de ocupa√ß√£o do complexo do Alem√£o, santu√°rio do narcotr√°fico encravado em uma regi√£o estrat√©gica da cidade do Rio de Janeiro, a experi√™ncia republicana brasileira trava uma batalha que n√£o admite recuo. √Č vencer ou vencer, embora as circunst√Ęncias n√£o lhe sejam afortunadas, quer porque ela n√£o teve como escolher a hora, que lhe chegou de modo inesperado, nem ainda disp√Ķe dos meios e de quadros qualificados a fim de converter uma cidadela de quatrocentos mil habitantes, h√° d√©cadas vivendo sob uma ordem imposta por senhores de guerra, em um espa√ßo citadino.
Em sua concep√ß√£o original, a pol√≠tica das Unidades de Pol√≠cia Pacificadora (UPPs) previa a sua imposi√ß√£o primeiramente nas comunidades faveladas de baixo risco, recolhendo experi√™ncias e conquistando o apoio da popula√ß√£o, da√≠ passando a agir nas mais problem√°ticas. Nessa escala, certamente o complexo do Alem√£o deveria ser uma das √ļltimas, se n√£o a √ļltima, inclusive pela natureza da sua geografia, a ser objeto de uma UPP. A rea√ß√£o dos narcotraficantes, sob as ordens de n√ļcleos com base nesse complexo de favelas, que desencadearam uma s√©rie de a√ß√Ķes terroristas em alvos indiscriminados da cidade, obrigou a mudan√ßa de c√°lculo: tornou-se imperativo come√ßar pelo fim.
Conclu√≠da com sucesso a opera√ß√£o pol√≠tico-militar de ocupa√ß√£o daquele territ√≥rio, a sociedade teve diante de si, nas telas da TV, a exposi√ß√£o nua de uma cidade de m√©dio porte que vivia em um mundo paralelo √† margem do Estado e de suas leis e servi√ßos p√ļblicos, e que tinha aprendido a construir uma rotina em meio a um campo de guerra e √†s amea√ßas das balas perdidas. Nas imagens repetidas √† exaust√£o, al√©m das tropelias da incurs√£o policial-militar, viam-se os movimentos das pessoas em suas fainas cotidianas, com suas sacolas de compras, em suas idas e vindas para os lugares do seu emprego, vis√≠veis, em toda parte, os sinais de uma intensa vida mercantil.
Mas, em meio a tantas indica√ß√Ķes de uma natureza bem assentada da vida privada, nada havia ali que denotasse a presen√ßa do p√ļblico e do cidad√£o. Ali estavam indiv√≠duos treinados a buscar suas condi√ß√Ķes de sobreviv√™ncia como seres especializados a viver na bolha da esfera privada, uma das quais, essencial, era a pr√≥pria ocupa√ß√£o do solo sobre o qual tinham constru√≠do suas habita√ß√Ķes, principal ref√ļgio para evitar a lei da selva imperante no territ√≥rio.
Ali estava, em uma das principais cidades do país, um espaço em que o exercício da autonomia deveria se confinar à dimensão privada da vida, uma vez que, no mundo da rua, o que cada qual deveria esperar era o estatuto da heteronomia imposta pelos comandos narcotraficantes ou pelo aparelho policial, não sem frequência ocupado por membros da sua banda podre. Sem um lugar institucionalizado para uma fala livre, a comunidade, tal como se constatou, não teve como apresentar qualquer narrativa que exprimisse a situação de terror sob a qual vivia, nem contou, embora a maioria adulta da população seja eleitoral e faça parte do mundo do trabalho, com uma solidariedade ativa dos partidos e dos sindicatos.
A simples liberta√ß√£o do territ√≥rio √©, como se sabe, apenas um primeiro passo. A popula√ß√£o inerme, em estado de anomia c√≠vica, destitu√≠da de auto-organiza√ß√£o, sem v√≠nculos org√Ęnicos com o mundo externo, continua uma presa f√°cil quer para a reconstitui√ß√£o, em novo formato, dos neg√≥cios dos narcotraficantes, quer para sua subordina√ß√£o a organiza√ß√Ķes de mil√≠cias. Confiar unicamente na interven√ß√£o policial-militar, mesmo que permanente, n√£o deve fazer parte das cogita√ß√Ķes dos tomadores de decis√£o quanto ao objeto do complexo do Alem√£o, alguns com a rica experi√™ncia do Haiti. A t√≥pica republicana sai dos livros, e se imp√Ķe como um rem√©dio heroico, mesmo para aqueles que sempre a trataram com desd√©m em nome de nomeadas urg√™ncias substantivas.
O paradoxo da situa√ß√£o est√° no fato de que essa mudan√ßa de larga envergadura nas rela√ß√Ķes do Estado e dos seus governantes com os setores mais sens√≠veis das classes subalternas - a imensa popula√ß√£o que habita as favelas - se apresente como uma resposta √† a√ß√£o do narcotr√°fico, que cont√©m, registre-se de passagem, um evidente elemento de rebeli√£o juvenil quanto a um sistema de ordem excludente e discriminador. Se, ali, agora, a rep√ļblica conta com uma oportunidade para criar raiz, deve-se, de algum modo, a eles, pois foi a partir do dom√≠nio terrificante que impuseram nos territ√≥rios que ocupam, que a demanda por ela se tornou uma quest√£o geral, socialmente necess√°ria, quando ficaram patentes os efeitos perversos de deixar tantos √† margem da cidade, dos seus valores, direitos e oportunidades de vida.
A tarefa √© de perder o f√īlego e exige o envolvimento de todos, da universidade, dos intelectuais, dos especialistas, dos partidos, sindicatos, associa√ß√Ķes empresariais, al√©m das autoridades governamentais envolvidas, que, diante da gravidade da situa√ß√£o, n√£o podem mais agir segundo sua pr√≥pria discri√ß√£o. Est√£o maduras as condi√ß√Ķes para a constitui√ß√£o de um f√≥rum permanente da sociedade civil, agregando um conjunto de in√ļmeras atividades j√° existentes a fim de concertar iniciativas comuns.
A rep√ļblica nos veio de cima, sob forma olig√°rquica, e a conhecemos, pelas longas d√©cadas do processo de moderniza√ß√£o, como autocr√°tica. A Carta de 1988 nos apresentou √†s institui√ß√Ķes de uma rep√ļblica democr√°tica, mas, como sabido, ela ainda n√£o √© uma ideia popular, pois, contradit√≥rio que seja, √© essa a possibilidade que se abre com o complexo do Alem√£o, onde est√£o dadas as condi√ß√Ķes para que se rompa com o sert√£o sem lei rumo √† cidade e para que se introduza anima√ß√£o republicana a partir de baixo.
Desta feita, como se vê, a coluna mudou de estilo - foi mais normativa do que analítica.
Deve ser o Natal e a passagem de ano, tempos prop√≠cios aos bons aug√ļrios.
A chegada da rep√ļblica no sert√£o (20 dez.)
Mais alguns dias e come√ßamos nova d√©cada e um novo governo, que n√£o deve ser igual √†quele que est√° passando, queiram ou n√£o os principais envolvidos na passagem do bast√£o presidencial de Lula a Dilma. Os ecos da crise financeira de 2008 ainda ressoam por toda parte, e teme-se uma recidiva. O neoliberalismo, que confiou no protagonismo dos fatos e apostou na desregula√ß√£o do mercado, na cren√ßa de que ele conheceria mecanismos autom√°ticos de corre√ß√£o de desajustes, √©, ao menos por ora, uma p√°gina virada na agenda do mundo. Em uma palavra, retorna-se a Keynes e ao ideal de um capitalismo organizado, em que pol√≠tica e economia voltam a se encontrar como dimens√Ķes interativas.
A globaliza√ß√£o, √© claro, segue seu curso, mas, a essa altura, sob a desconfiada vigil√Ęncia de todos os envolvidos que se empenham em higienizar seus sistemas financeiros, racionalizando as suas opera√ß√Ķes. Sob risco, as economias nacionais passam a depender do tiroc√≠nio e de uma interven√ß√£o perita das ag√™ncias especializadas dos seus Estados no sentido de dirimir o impacto da crise, enquanto sondam as possibilidades para os caminhos que levem a uma recupera√ß√£o. A necessidade da coopera√ß√£o, tanto no plano nacional quanto no internacional, tem exposto o mundo sist√™mico a uma in√©dita influ√™ncia das institui√ß√Ķes republicanas sobre o seu comportamento.
O governo Dilma nasce, portanto, em um cen√°rio descrente em surtos de moderniza√ß√£o, e j√° n√£o se ouve falar das virtudes do estilo de governar do nacional-desenvolvimentismo, que dominou o discurso de campanha da ent√£o candidata. A acelera√ß√£o do desenvolvimento por pol√≠ticas de cr√©dito f√°cil e de uma diversificada e potente a√ß√£o do Estado no dom√≠nio econ√īmico, at√© ontem um objetivo a ser perseguido, nesse novo cen√°rio √© percebida como um lugar de riscos. H√°, como se diz, armadilhas na rota do crescimento, e, para evit√°-las, at√© vale o recurso ao ajuste fiscal, antes demonizado.
Não à toa, nas entrevistas dos quadros já identificados como responsáveis pela condução da economia no futuro governo, o lema adotado é o da "administração prudencial" do seu curso, dicção própria ao discurso da social-democracia, avessa àquela do nacional-desenvolvimentismo, que guarda em sua gramática uma concepção fáustica sobre as promessas da expansão das forças produtivas, que não deveria temer, entre outros espantalhos, um certo quantum de inflação.
Como not√≥rio, n√£o se chegou a essa mudan√ßa por uma opera√ß√£o meramente mental. Foram os fatos - a crise de 2008 - que for√ßaram o ator a buscar novos paradigmas, a ponto do presidente Lula n√£o se reconhecer na figura do ainda seu ministro Mantega, que, indicado para continuar sua gest√£o no minist√©rio da Fazenda do governo Dilma, j√° fala no novo idioma que passar√° a imperar. Em outro plano, no da sociedade, por uma combina√ß√£o tamb√©m err√°tica dos fatos, mas, no caso, afortunada, nota-se a emerg√™ncia da t√≥pica republicana como o repert√≥rio mais adequado para emancipar os territ√≥rios das favelas cariocas do dom√≠nio exercido sobre elas pelas diferentes fac√ß√Ķes de narcotraficantes.
Decerto que, desde a cria√ß√£o das Unidades de Pol√≠cia Pacificadora (UPPs), os germes de uma nova pol√≠tica estavam presentes, cujas origens mais remotas provinham do programa Favela-Bairro, adotado nos anos 1990. Tal programa se fundava no diagn√≥stico de que, na raiz dos males da sociedade carioca, posta em evid√™ncia pelo controle territorial e de popula√ß√Ķes das classes subalternas exercido pelo crime organizado, estava uma certa configura√ß√£o do Rio de Janeiro como "cidade escassa", na forma do conceito formulado pela soci√≥loga Maria Alice Rezende de Carvalho, de algum modo apropriado, em seu primeiro mandato, pelo prefeito Cesar Maia. Tal diagn√≥stico se assentava no reconhecimento de que era a falta do Estado e de suas institui√ß√Ķes republicanas no mundo popular, especialmente nas favelas, a causa mais funda do malaise carioca.
Por v√°rios motivos, a pol√≠tica do Favela-Bairro n√£o prosperou, inclusive pelo fato de que n√£o se enfrentou o tema decisivo da liberta√ß√£o dos territ√≥rios ocupados pelas bandas de narcotraficantes, em que se infiltrava um novo e insidioso perigo com a organiza√ß√£o das chamadas "mil√≠cias", compostas pela banda podre do aparelho policial, que descobrem o caminho eleitoral como recurso de prote√ß√£o √†s suas atividades. Coube ao secret√°rio de Seguran√ßa do Estado do Rio de Janeiro, Jos√© Maria Beltrame, a fixa√ß√£o do objetivo estrat√©gico da conquista territorial por parte do Estado das zonas sob a ocupa√ß√£o das fac√ß√Ķes criminosas, a partir da inova√ß√£o institucional das UPPs.
No plano, o objetivo era o de libertar primeiro as comunidades menos problem√°ticas, em uma expans√£o gradual das UPPs, que poderia levar anos at√© compreender o universo visado. E assim seria n√£o fosse a rea√ß√£o desastrada dos chefes das fac√ß√Ķes dos narcotraficantes, que recorreram a atos de terrorismo na tentativa de impor um recuo √†s for√ßas do Estado. O epis√≥dio n√£o deixou alternativa √†s for√ßas da seguran√ßa estaduais sen√£o a de recorrer ao governo federal a fim de mobilizar a presen√ßa das For√ßas Armadas. Com ela, efetivou-se a conquista policial-militar do complexo do Alem√£o, n√ļcleo principal dos narcotraficantes, logradouro habitado por mais de 400 mil pessoas.
Conquist√°-lo, por√©m, para a cidade √© tarefa que mal se inicia. Um bom come√ßo est√° no conv√™nio, h√° pouco celebrado, entre autoridades do judici√°rio federal e estadual, do minist√©rio da Justi√ßa e do governo estadual, no sentido de implantar nos territ√≥rios resgatados para a cidadania as ag√™ncias de defesa e promo√ß√£o dos seus direitos. Animar e proteger a vida mercantil nessas comunidades √© outro ponto obrigat√≥rio na agenda de amplia√ß√£o da cidade para um lugar que antes foi apenas um sert√£o dominado pela lei do mais forte, ou bandido ou policial. A rep√ļblica, quer na dimens√£o macrossocial, quer na micro, nos tem chegado por imprevistos, mas j√° passou da hora a entrada em cena do ator.
Em tempo: no complexo do Alemão não há registro da presença dos partidos políticos nem dos sindicatos. Em Palermo, cidade que viveu sob o terror da máfia, havia.
Alexandre, Conf√ļcio e outros her√≥is (29 nov.)
Esta coluna é dedicada a Ricardo Benzaquen, a Robert Wegner e a Jessé Souza.
A fortuna √© sempre arredia √† vontade dos homens, mesmo quando virtuosos e diligentes, que n√£o t√™m como antecipar o resultado de suas a√ß√Ķes. Alexandre, o rei dos maced√īnios, quando se lan√ßou √† conquista do Oriente estava animado por v√°rios objetivos, entre os quais o de livrar a H√©lade da amea√ßa iminente de ser submetida ao imp√©rio persa. Sustentam alguns dos seus bi√≥grafos que, al√©m dessa motiva√ß√£o de natureza estrat√©gica, Alexandre se julgava um descendente do m√≠tico guerreiro Aquiles, com cujos feitos teria a pretens√£o de se ombrear. Outros, levando em conta que o jovem rei fora disc√≠pulo de Arist√≥teles, incluem entre seus objetivos motivos filos√≥ficos como o de promover a raz√£o √† inst√Ęncia ordenadora do mundo. Mas decididamente n√£o estava em seus c√°lculos que, ao estabelecer a comunica√ß√£o entre a cultura filos√≥fica dos helenos com a dos mist√©rios m√≠sticos do Oriente, estava plantando as sementes que, trezentos anos depois, como argumenta a sempre cl√°ssica obra de Johann G. Droysen sobre Alexandre, desabrochariam na revolu√ß√£o do cristianismo.
As complexas sociedades modernas obedecem a outras l√≥gicas, articulando v√°rios sistemas dotados de movimentos pr√≥prios, em que, sob certas circunst√Ęncias, como anota um grande pensador, os "protagonistas s√£o como que os fatos", obscurecendo o papel do ator na tentativa de condu√ß√£o das coisas do mundo. No capitalismo, uma das fortes express√Ķes desse fen√īmeno estaria no processo de cria√ß√£o e reprodu√ß√£o do valor, tal como Marx o estudou, que se alimentaria, em escala continuamente ampliada, da sua base anterior. A emiss√£o do bord√£o que tornou mundialmente conhecido o publicit√°rio americano James Carville - √© a economia, est√ļpido! -, n√£o fosse a sua vulgaridade, poderia perfeitamente ter sido de sua autoria.
O protagonismo dos fatos, diante de um ator que aparenta estar impotente diante deles, bem poderia servir de caracteriza√ß√£o para a atual cena internacional. A ciranda financeira, com seus trilh√Ķes de d√≥lares circulando pelo mundo virtual √† procura da aplica√ß√£o mais rent√°vel, aparenta agir de motu proprio, destruindo economias nacionais e concedendo a outras oportunidades imprevistas. Assim, o Brasil que, desde os anos 1930, se acostumou a projetar seu futuro pelo caminho da industrializa√ß√£o, tem, hoje, no agroneg√≥cio, gra√ßas √†s perip√©cias do fluxo cego das mercadorias, um dos seus principais trunfos para atuar no mercado internacional, principalmente com a poderosa China. Tal mudan√ßa, de larga envergadura, inclusive no que se refere √† disposi√ß√£o das classes sociais e grupos de interesses no pa√≠s, n√£o fazia parte das cogita√ß√Ķes estrat√©gicas dos tomadores de decis√£o h√° pouco tempo atr√°s.
O tsumani de 2008 - n√£o por acaso o notici√°rio econ√īmico tomou de empr√©stimo essa categoria da esfera das cat√°strofes naturais para nomear a crise financeira daquele ano - mais do que desorganizar a economia mundial, vem pondo em xeque a hegemonia americana, a essa altura j√° desafiada pela crescente expans√£o da economia e da diplomacia chinesa no Oriente, na √Āfrica e na Am√©rica Latina. No Brasil, a China ter-se-ia tornado tanto o maior mercado para os seus produtos, quanto um dos seus maiores investidores. Al√©m disso, significou um duro golpe no neoliberalismo e suas cren√ßas em uma feliz autorregula√ß√£o do mercado, fazendo ressurgir a ideologia, t√£o cara aos anos 1960, de um capitalismo organizado.
A crise, como tantas vezes analisado, se não poupou os países emergentes, os atingiu em escala bem menos severa, estimulando o experimentalismo e a inovação, que, no caso brasileiro, importou na adoção de políticas anticíclicas de corte keynesiano. Com essa nova conjunção dos fatos no mundo, abriu-se, então, a oportunidade para a retomada de um antigo repertório, o do nacional-desenvolvimentismo de JK e do regime militar, em particular o do governo Geisel.
Para a sua volta triunfante, na verdade, precisava-se de pouco: estavam ao alcance da m√£o os seus principais instrumentos, como uma tecnocracia estatal de quadros qualificados, as poderosas empresas estatais, encimadas pela Petrobras, um sistema financeiro bem regulado e sob competente vigil√Ęncia do Banco Central, os bancos estatais, sobretudo o BNDES, que, com o est√≠mulo do governo, transformou-se em um dos maiores bancos de fomento do mundo.
Desde ent√£o, a pol√≠tica se converte em um instrumento consciente de consolida√ß√£o e aprofundamento do capitalismo brasileiro, e deve ser por isso que os analistas japoneses da ag√™ncia Nomura Securities, ao lado de outras considera√ß√Ķes sobre o que dever√° ser a economia sob o governo de Dilma, tais como o combate aos juros altos por mais oferta de cr√©ditos e medidas administrativas, estimam que o modelo de crescimento econ√īmico chin√™s estaria em vias de se impor entre n√≥s.
Quem sabe - logo se vai poder perguntar - a intelig√™ncia brasileira teria seguido pistas equ√≠vocas ao perseguir os caminhos abertos pelo Ocidente, que n√£o ter√≠amos como reiterar? Por que n√£o olhar para China com sua milenar burocracia treinada no sistema do m√©rito, para a harmonia cordata que prevalece em sua complexa estrutura social e seus espantosos √≠ndices de desenvolvimento econ√īmico? N√£o seria para essa dire√ß√£o que a √©poca nos tange desde os acontecimentos catastr√≥ficos de 2008?
Um reputado soci√≥logo, h√° algum tempo, em um exerc√≠cio meramente conceitual sobre categorias presentes na sociologia da religi√£o de Max Weber, avizinhou o homem cordial, personagem t√≠pico do iberismo, constru√ß√£o te√≥rica de Sergio Buarque de Holanda em Ra√≠zes do Brasil, ao tipo de homem recortado pelo padr√£o confuciano. Vale, agora, torcer para que esse experimento abstrato n√£o escape de uma situa√ß√£o de laborat√≥rio, com o risco de ser arrastado pelos √ļltimos balan√ßos das ondas do tsumani de 2008, e assim nos levando de rold√£o do extremo Ocidente, lugar que os her√≥is da nossa hist√≥ria escolheram para n√≥s, ao mais remoto Oriente, onde perder√≠amos o caminho de casa.
Principado novo e bola de cristal (22 nov.)
Para onde vamos depois que se findar esse longo entreato entre as elei√ß√Ķes e a posse da candidata eleita, quando inauguramos principado novo? Por ora, de ci√™ncia certa, somente sabemos que o mar n√£o vai virar sert√£o nem o sert√£o vai virar mar. Dantes, em igual circunst√Ęncia, os futuros presidentes programavam longas viagens, sob os mais variados pretextos, a fim de que, distantes de press√Ķes, pudessem montar sua equipe de governo e definir os rumos estrat√©gicos e as medidas de impacto com que imporiam suas marcas no exerc√≠cio da Presid√™ncia.
Menos afortunada que eles, a presidente eleita n√£o deve contar com esse trunfo antes de ser entregue √† voragem dos acontecimentos que est√£o destinados a surpreend√™-la nos quatro anos do seu mandato, que j√° nascem sob o signo de uma d√ļvida letal: programa-se para um mandato ou para dois? Trata-se de um governo tamp√£o, sob a guarda de uma criatura que apenas ocupa por um tempo determinado um lugar reservado ao seu criador, aplicada √† leitura, mesmo que criativa, de uma pauta j√° conhecida, ou de uma presidente que vai se aventurar nos mist√©rios da composi√ß√£o de uma pe√ßa nova? Mais que in√©dita na moderna rep√ļblica brasileira, essa m√° disposi√ß√£o dos fatos imp√Ķe √† dramaturgia que ora entra em cena com o mandato de Dilma Rousseff um elemento estranho ao especificamente pol√≠tico em raz√£o das conota√ß√Ķes pessoais envolvidas, e que podem interferir no curso de suas a√ß√Ķes.
De outro lado, j√° se pode saber que a parte dura do n√ļcleo governamental ser√° constitu√≠da por quadros formados na administra√ß√£o do mundo sist√™mico, nele consagrados por seus desempenhos na condu√ß√£o das finan√ßas, da ind√ļstria, dos servi√ßos e do agroneg√≥cio, com os quais vai se dar sequ√™ncia ao atual movimento de expans√£o e aprofundamento capitalista do pa√≠s e da sua inser√ß√£o no sistema mundial. Nesse n√ļcleo n√£o dever√° haver lugar privilegiado para operadores especializados na leitura do fato pol√≠tico, como foram Jos√© Dirceu e Franklin Martins, aplicados monotematicamente a quest√Ķes relativas √† conserva√ß√£o e √† reprodu√ß√£o do poder. Se tal linha de interpreta√ß√£o estiver correta, o perfil do pr√≥ximo governo acabar√° confirmando o que foi o tom predominante na campanha eleitoral: mais pr√≥ximo da agenda da administra√ß√£o do que da pol√≠tica.
Nesse sentido, as pol√≠ticas p√ļblicas orientadas para o social dever√£o ser objeto de uma forte racionaliza√ß√£o, o que deve importar uma maior autonomia na sua implementa√ß√£o diante dos partidos que comp√Ķem a ampla base aliada de sustenta√ß√£o congressual do governo. Tanto o cen√°rio interno como o externo, sobretudo este, apontam para essa mesma dire√ß√£o, em que deveremos ter um governo de economistas, a come√ßar pela pr√≥pria presidente, em que os temas da macroeconomia devem sair dos gabinetes dos doutos para se tornarem linguagem corrente entre os partidos e os pol√≠ticos. A oposi√ß√£o ser√° obrigada a criar um suced√Ęneo de um gabinete das "sombras", apto a desafiar, no mesmo idioma, os rumos governamentais.
Pois, de fato, a economia-mundo, na rica express√£o do soci√≥logo Immanuel Wallerstein, entrou em crise sist√™mica com a assim chamada guerra cambial, parecendo nos querer devolver a uma cena internacional de marca√ß√£o hobbesiana. Ressurge, ao menos no plano da ret√≥rica, o primado do princ√≠pio da soberania nas rela√ß√Ķes entre as na√ß√Ķes sobre as concep√ß√Ķes e pr√°ticas, como as do Direito Internacional e de suas institui√ß√Ķes, que, nessas √ļltimas quatro d√©cadas, visaram moderar a sua influ√™ncia nas rela√ß√Ķes entre Estados. Os mercados nacionais, em um tempo de globaliza√ß√£o, amea√ßam regredir a pr√°ticas abertas ou veladas de protecionismo, sob o risco de converter uma crise cambial em uma guerra comercial efetiva.
Os resultados da √ļltima reuni√£o do G-20 deixaram patente a afirma√ß√£o do princ√≠pio da soberania sobre as considera√ß√Ķes assentadas em princ√≠pios de coopera√ß√£o internacional. A pol√≠tica imp√Ķe-se √† economia, com os pa√≠ses que lideram o mercado mundial instituindo, como recursos estrat√©gicos para a defesa de suas hegemonias, pol√≠ticas monet√°rias de desvaloriza√ß√£o de suas moedas nacionais. Nesse cen√°rio, n√£o h√° lugar para a livre movimenta√ß√£o de capitais, especialmente, como anota Paulo Nogueira Batista Jr, quando "o principal emissor de moeda internacional [os EUA] adota pol√≠ticas monet√°rias ultraexpansivas" (O Globo, 13/11/10).
Ser√° sob os ausp√≠cios dessa crise que Dilma entrar√° em cena, tendo que fazer v√°rias escolhas de Sofia, uma vez que n√£o ter√° como contemplar a todos, marca pol√≠tica do governo a que sucede, inclusive porque os constrangimentos sist√™micos a que o pa√≠s est√° exposto lhe chegam, em grande parte, do novo estado de coisas reinantes no mundo e que imperativamente exigem respostas adequadas. Nesse contexto, inevit√°veis as press√Ķes por algum n√≠vel de ajuste fiscal e pela reforma trabalhista e tribut√°ria - essa √ļltima j√° anunciada pela not√≠cia de que o governo Dilma se vai empenhar em medidas de desonera√ß√£o da folha salarial -, contrapondo interesses que, sob os mandatos de Lula, coexistiram em boa paz.
Assim, a esp√©cie de concordata entre o mundo sist√™mico e a pol√≠tica, sempre sob a arbitragem de Lula, que bafejou o governo que ora se conclui, deve encontrar seus limites. As pol√≠ticas de defesa da atividade industrial e do agroneg√≥cio, de dif√≠cil composi√ß√£o diante da crise cambial, consistir√£o, entre outras agendas conflitivas pesadas, em um duro teste para ela. A previs√£o faz parte da an√°lise pol√≠tica, e, no caso, parece razo√°vel supor que a libera√ß√£o de tantas tens√Ķes represadas no interior do Estado, que agora tendem a se desviar para o terreno livre da sociedade civil, venha a ativar os movimentos sociais e a animar em um impulso de baixo para cima os partidos, principalmente os de esquerda.
E la nave va (8 nov.)
H√° consenso entre os analistas de que, nessa disputa pela sucess√£o presidencial, a linguagem dominante foi a do marketing, e n√£o a da pol√≠tica. Com efeito, durante os longos meses da campanha no hor√°rio eleitoral, a agenda que os candidatos seguiam - sa√ļde, educa√ß√£o, seguran√ßa - procedia das pesquisas quantitativas e qualitativas elaboradas por especialistas dessa t√©cnica de comunica√ß√£o, embora n√£o se lhes possa negar o desempenho eficiente ao expor seus antigos feitos nesses quesitos e na apresenta√ß√£o dos que prometiam para o futuro.
Democracia, suas institui√ß√Ķes e seu aperfei√ßoamento, assim como programas de governo, contudo, foram considerados temas fora do alcance do entendimento da massa do homem comum e, como tais, marginalizados, quando n√£o completamente ignorados pelos candidatos, inclusive no segundo turno eleitoral. O diagn√≥stico, que lhes vinha das pesquisas, era o da satisfa√ß√£o dos eleitores com o estado de coisas reinante no pa√≠s, do qual derivaria a orienta√ß√£o comum de se apresentarem como agentes da continuidade.
As quest√Ķes amea√ßadoras, como as das reformas tribut√°ria, pol√≠tica, trabalhista e sindical - nem pensar na agr√°ria e, menos ainda, na previdenci√°ria - deveriam ser deixadas para depois do per√≠odo eleitoral, com o que se infantilizou o eleitor, visto como um mero consumidor de bens e servi√ßos. √Č certo que, por acaso, pelo estudo dos votos evang√©licos obtidos pela candidata Marina Silva no primeiro turno, veio √† tona uma quest√£o efetivamente amea√ßadora, a do aborto, que suscitou paix√Ķes falsas nos candidatos, postas no lugar das que poderiam revelar as verdadeiras, mantidas dentro do arm√°rio e que v√£o sair dele a partir de agora.
Findo o processo, vitoriosa a candidata Dilma, mesmo que ainda em estado de ressaca c√≠vica, a cidadania come√ßa a se dar conta de que o mundo de fantasia do hor√°rio eleitoral n√£o condiz com o mundo efetivamente existente. Apesar disso, baixadas as cortinas, h√° muito que comemorar, em primeiro lugar, o fortalecimento das institui√ß√Ķes republicanas e da democracia. Um h√°bito novo - constata-se √† vista de todos - se difunde em todas as camadas sociais do pa√≠s: o do respeito √†s leis e √†s regras do jogo, salvo alguns escorreg√Ķes presidenciais, e o reconhecimento, que se generaliza, de que √© por a√≠ que se encontram os caminhos que levam a uma pol√≠tica de transforma√ß√£o social. Em segundo, a consagra√ß√£o da quest√£o social como estrat√©gica para a composi√ß√£o das for√ßas pol√≠ticas e de seus projetos de poder. A vit√≥ria nas urnas √© inacess√≠vel sem ela, e isso foi bem compreendido pelos candidatos.
O mundo efetivamente existente √© o da pol√≠tica e o das controv√©rsias sobre quais os rumos a serem seguidos. A marca do governo Lula foi a de trazer para o interior do Estado uma pluralidade de classes, de fra√ß√Ķes de classes, alinhadas ou n√£o partidariamente, administrando os conflitos entre elas a partir dos recursos de poder presidenciais, assim interditando a sua manifesta√ß√£o no terreno da sociedade civil escorados em suas representa√ß√Ķes pol√≠ticas e sociais. Decerto que essa tarefa exigia qualidades extraordin√°rias do seu operador, que n√£o faltaram ao carism√°tico Lula.
Dilma n√£o √© Lula nem o seu quatri√™nio de governo ser√° o mesmo daquele que passou. Ali√°s, se os registros biogr√°ficos servem para algo, n√£o se pode desconsiderar que Lula construiu sua identidade no meio sindical, nas circunst√Ęncias da ditadura militar, avessa a manifesta√ß√Ķes de uma √©tica de convic√ß√£o por parte de um l√≠der oper√°rio, e adotou o pragmatismo como lema de vida. Dilma, por sua vez, prov√©m da pol√≠tica, e de uma pol√≠tica, como atesta sua hist√≥ria na resist√™ncia armada, orientada pelo culto da vontade, que, de algum modo, preservou nos seus tempos de militante do PDT de Brizola, um pol√≠tico que tamb√©m cultuava o primado da vontade em sua forma de agir. Se tra√ßos desse estilo pessoal persistem, eles n√£o s√£o favor√°veis √† dif√≠cil tarefa de manter contr√°rios em equil√≠brio.
Por outro lado, Dilma governar√° em condom√≠nio com o PMDB, que ter√° na vice um dos seus melhores quadros, respaldado por pol√≠ticos notabilizados, por mais que se fale mal deles, pelo tiroc√≠nio pol√≠tico e sabedoria na preserva√ß√£o do poder. O estilo Lula de administra√ß√£o se assentava no monop√≥lio que ele desfrutava no exerc√≠cio da pol√≠tica e na sua capacidade de interlocu√ß√£o direta com o povo. Dilma n√£o contar√° com esse monop√≥lio, inclusive porque o PT n√£o lhe conceder√° tanto quanto concedeu a Lula em mat√©ria de abdica√ß√£o de poder, e alguns partidos da chamada base aliada se fortaleceram, como o PSB, dirigido pelo governador de Pernambuco, que herdou do seu av√ī, Miguel Arraes, as mesmas aspira√ß√Ķes presidenciais. Tampouco, como not√≥rio, √© vocacionada para a ida ao povo.
A sinaliza√ß√£o da mudan√ßa de cen√°rio tamb√©m √© indicada pelo novo mapa dos governadores eleitos, com a oposi√ß√£o √† testa dos principais Estados da Federa√ß√£o, o que exigir√° um andamento para a pol√≠tica mais consensual, inclusive porque a maioria governamental no Congresso √© mais um resultado das estrat√©gias eleitorais dos partidos que a comp√Ķem do que de uma uni√£o pol√≠tica em torno de um programa. Tal terreno n√£o parece pr√≥prio para a emana√ß√£o de virtudes carism√°ticas. Ali√°s, esse foi mais um recado trazido pela campanha eleitoral, quando a op√ß√£o dos candidatos foi a de se mostrarem como os mais credenciados para impor uma administra√ß√£o racional √† economia e √†s pol√≠ticas p√ļblicas, ao inv√©s de procurar rumos novos para a sociedade.
Com Dilma o que se tem é principado novo, e se ingressa, de fato, em uma ordem burguesa racionalizada, que o messianismo implícito de Lula, ao encarnar a representação do povo, sabia temperar. Sem ele e o seu estilo de negociador nato, os interesses e os conflitos de interesses devem fluir mais soltos, evadindo-se da jurisdição estatal e retomando seus lugares na sociedade civil. Para o bem e para o mal, a política promete voltar.
Os céus por testemunha (25 out.)
A campanha presidencial se aproxima do fim, j√° permitindo um primeiro balan√ßo do seu invent√°rio, que, mais √† frente, ser√° explorado nas an√°lises acad√™micas e do jornalismo especializado no fato pol√≠tico. Mas desde logo √© evidente que, no registro desse invent√°rio, a presen√ßa da religi√£o ocupou um papel surpreendente, embora os candidatos que chegaram ao segundo turno eleitoral tenham perfis e hist√≥ricos na vida p√ļblica bem definidos segundo os padr√Ķes laicos republicanos.
√Č verdade que essa presen√ßa n√£o √© in√©dita na nossa hist√≥ria eleitoral, not√≥ria nas elei√ß√Ķes √† assembleia constituinte de 1934, a partir das atividades da Liga Eleitoral Cat√≥lica (LEC), fundada dois anos antes, que, sob a chancela de c√≠rculos da hierarquia cat√≥lica, indicava uma lista de candidatos da sua prefer√™ncia e vetava aqueles vistos como contr√°rios aos seus princ√≠pios de doutrina. A LEC, nas primeiras elei√ß√Ķes subsequentes ao Estado Novo, ainda se fez presente, mas, aos poucos, perdido o apoio na alta hierarquia da Igreja, deixou de exercer qualquer influ√™ncia.
A novidade, agora, est√° na ressurg√™ncia da import√Ęncia da religi√£o no voto e sobretudo no fato decisivo de que a agenda dita comportamental e dos valores religiosos √© tamb√©m expressa com vigor nos setores subalternos, especialmente daqueles que, em raz√£o das transforma√ß√Ķes sociais e dos sucessos econ√īmicos do pa√≠s nas √ļltimas duas d√©cadas, emergiram para se acrescentarem na composi√ß√£o das classes m√©dias, em boa parte de ades√£o evang√©lica. Vale dizer, est√° insinuado que, para sensibiliz√°-los, √© preciso ir al√©m de um discurso orientado para conquistas materiais.
A vota√ß√£o em Marina nas periferias metropolitanas, embora tenha extrapolado em muito o fator religioso, imp√īs o reconhecimento de que a antropologia do voto tinha acabado de conhecer uma significativa muta√ß√£o. Logo que se abre o segundo turno, foi isso que, por atos e palavras, as candidaturas de Serra e Dilma vieram a admitir.
A partir da√≠, a inflex√£o religiosa dessas candidaturas revela o entendimento de que a seculariza√ß√£o, h√° d√©cadas impactando fortemente o comportamento das classes m√©dias tradicionais brasileiras, brancas e cultivadas, vem tocando bem menos nos rec√©m-chegados a essa fronteira social, escudados em valores religiosos que prov√™m de cultos que se enraizaram no seu pr√≥prio meio. Para o bem e para o mal, a religi√£o passa a ser reconhecida como portadora de um poder efetivo de veto nas escolhas majorit√°rias das competi√ß√Ķes pol√≠ticas.
No rol desse inventário não pode faltar a questão social, que, durante esses longos meses de campanha, permitiu aos candidatos exibirem seus presumidos dons de verter dos céus leite e mel, ao lado de saneamento básico aqui na terra, mesmo que tenham optado por não nomear as fontes de que vão extrair os recursos para os prodígios prometidos, entre os quais um trem-bala, projeto de faraós, a ligar a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro em meio a desfiladeiros de Alpes suíços. Com o compositor popular, pode-se perguntar: com que roupa que eu vou, ao samba que você me convidou?
E, assim, nesse balan√ßo preliminar de uma competi√ß√£o ainda em andamento, os sil√™ncios podem ser t√£o ou mais eloquentes do que o que √© dito, porque as ladainhas rotineiras do hor√°rio pol√≠tico produzidas pelos marqueteiros n√£o t√™m como suprir a aus√™ncia de programas pol√≠ticos. Sob esse registro, essa campanha declinou da pol√≠tica, apresentando um cen√°rio ocupado por um √ļnico ator, o governo e suas a√ß√Ķes, recitando-se um mon√≥logo para um p√ļblico idealizado, como se ele n√£o conhecesse, em sua vida real, os conflitos de interesses entre as classes e entre as concep√ß√Ķes do mundo.
Foi, ent√£o, poss√≠vel transitar lisamente sobre a quest√£o agr√°ria brasileira sem que fossem declaradas e debatidas pelos candidatos as suas posi√ß√Ķes sobre a atual estrutura fundi√°ria, fora as invectivas sarc√°sticas de Pl√≠nio. Hoje, √†s v√©speras das elei√ß√Ķes, nada se sabe sobre como cada qual se situa nesse mundo que abriga uma fronteira agr√°ria viva no norte e no centro-oeste do pa√≠s - excepcionalidade brasileira em pleno s√©culo XXI - e um dos vetores por onde se amplia e aprofunda o moderno capitalismo no pa√≠s em forte conex√£o com pol√≠ticas do Estado.
A aus√™ncia desse tema se tornou ainda mais excruciante pelo fato de que boa parte das controv√©rsias de natureza ambiental, como √© de conhecimento generalizado, gravita em torno do mundo agr√°rio e das atividades econ√īmicas nele existentes. Finda a campanha, os candidatos finalistas, Serra e Dilma, saem limpos dessa pesada e incontorn√°vel quest√£o, sem que se saiba sequer - um exemplo escandaloso - qual a posi√ß√£o deles sobre a reforma do C√≥digo Florestal, ora em andamento no Legislativo federal.
Passou-se batido, igualmente, sobre o tema sindical, embora tanto o PT como o PSDB contem em sua história e práticas de governo - no caso do PT, lembre-se do projeto de reforma do ministério Berzoini, em 2005 - com iniciativas contrárias à vinculação dos sindicatos ao Estado. Mesmo destino teve a questão estratégica dos rumos da industrialização do país, mesmo em plena "guerra cambial", cujos desdobramentos podem vir a ameaçá-la, para não falar das abrasivas matérias previdenciárias e tributárias. E, a propósito, por que nenhuma palavra, nem contra ou a favor, sobre o capitalismo politicamente orientado que se insinua por aí?
Resultou da campanha um retrato chapado do pa√≠s, bem nos moldes do governo Lula, que trouxe para o seu interior todas as classes e todos os interesses relevantes, por mais contradit√≥rios que fossem entre si. Pode-se cogitar, diante das circunst√Ęncias, de que outros caminhos n√£o levariam a melhores resultados, porque, sabemos todos, n√£o √© f√°cil o acesso ao voto em uma sociedade desigual como a nossa.
Mas Lula, agora, ser√° apenas um retrato na parede, e o candidato vencedor, com o que vem por a√≠, inclusive porque, qualquer que seja ele, contar√° com uma oposi√ß√£o forte e aguerrida, vai precisar muito da ajuda dos c√©us, t√£o invocados nessas elei√ß√Ķes.
A dádiva e as forças próprias (18 out.)
Sucess√Ķes presidenciais, mesmo quando an√≥dinas, como esta em que estamos envolvidos, t√™m o cond√£o de mudar o curso dos acontecimentos. Sucess√Ķes brasileiras envolvem um col√©gio eleitoral de milh√Ķes de pessoas, expostas por um largo per√≠odo de tempo √† propaganda eleitoral nos meios de comunica√ß√£o de massa, com seus candidatos obrigados a decifrar, em meio a uma profunda heterogeneidade social e regional, quais s√£o as motiva√ß√Ķes para o voto de um eleitorado de comportamento ainda muito pouco conhecido.
Assim, afora a presen√ßa do marketing pol√≠tico e dos institutos de pesquisa especializados no estudo do voto que atuam no sentido de produzir alguma inteligibilidade e previsibilidade sobre o processo eleitoral, as elei√ß√Ķes, especialmente em uma sociedade inarticulada como a nossa, contam, ou deveriam contar, com a leitura privilegiada dos candidatos sobre o cen√°rio e as circunst√Ęncias em que est√£o envolvidos.
Algumas sucess√Ķes do nosso passado recente n√£o podem ser explicadas se n√£o se consideram os atributos demi√ļrgicos de candidatos vencedores, como J√Ęnio Quadros, Fernando Collor e Lula, que, em meio a inumer√°veis caminhos poss√≠veis, descobriram os que poderiam lev√°-los a atingir as expectativas dos eleitores das elei√ß√Ķes que disputaram. No caso deles, pode-se sustentar que o carisma tenha sido um elemento determinante em suas vit√≥rias, na medida em que importou em leituras inovadoras da situa√ß√£o do pa√≠s e¬†eles significavam rupturas com rotinas e com as formas usuais de interpret√°-la.
Essas elei√ß√Ķes de 2010 nascem sob o signo oposto ao da inova√ß√£o. Tanto para Dilma como para Serra, os dois contendores que a√≠ est√£o no segundo turno, a chave de leitura com se credenciam √† disputa eleitoral √© a da continuidade, diagn√≥stico que lhes chega dos especialistas e que n√£o reclamava deles uma qualidade especial, salvo a de se apresentarem como administradores preparados a fim de dar sequ√™ncia a um script que vinha "dando certo". A partir dessa op√ß√£o comum, ambas as candidaturas abdicam da inven√ß√£o, da cria√ß√£o propriamente pol√≠tica, e partem para o confronto eleitoral em um campo dominado pela linguagem da administra√ß√£o.
Sob esse registro sem alma, o hor√°rio pol√≠tico franqueado pela legisla√ß√£o vai servir de vitrine para as obras realizadas e de lugar para controv√©rsias estat√≠sticas sobre servi√ßos anteriormente prestados, cada candidato brandindo uma cornuc√≥pia gigante de onde se extraem promessas de habita√ß√£o, sa√ļde, seguran√ßa, saneamento b√°sico, aumentos salariais, vida farta e barata como d√°diva do futuro governante.
Por√©m, como se diz, promessas s√£o d√≠vidas, e, dessa perspectiva, a quest√£o social brasileira, nesta disputa eleitoral, adquiriu - e essa √©, sem d√ļvida, uma vit√≥ria de Lula - uma envergadura in√©dita na pol√≠tica brasileira. De passagem, notar que o tema das privatiza√ß√Ķes, antes t√£o influente, somente, agora, no segundo turno, faz sua apari√ß√£o, embora, pelo que se v√™, sem acender a imagina√ß√£o dos eleitores e a dos pr√≥prios candidatos.
Abrir essa cornuc√≥pia, sabem-no as pedras das ruas, vai depender da economia, e, tirante as expectativas de tesouros escondidos no pr√©-sal, o p√ļblico eleitor n√£o est√° suficientemente informado de como tantas promessas v√£o se converter em bens tang√≠veis, uma vez que os candidatos se t√™m mostrado reticentes sobre quais s√£o os seus programas de governo.
De qualquer modo, o mandato que vier a nascer dessa campanha presidencial estará incontornavelmente comprometido com a realização do que foi o programa social das duas candidaturas, temática dominante em todo o seu transcurso, ambas alinhadas a uma social-democracia à brasileira de corte paternal, essa nova espécie de jabuticaba que medra entre nós.
Frustra√ß√Ķes nesse terreno, com Lula t√£o perto em S√£o Bernardo, n√£o seriam aconselh√°veis. Contudo, dado que os recursos s√£o escassos, nada dif√≠cil prever que, com o novo governante, a hora das reformas chegar√° para valer, e, com ela, a queda de bra√ßos a definir quem perde e quem ganha, havendo dois times bem definidos para uma aguerrida disputa em cada ponto da sua agenda.
Dessa modelagem resultou, como seria de se esperar, uma campanha presidencial em que os movimentos sociais e seus temas tenham sido os grandes ausentes, dos sindicatos √†s organiza√ß√Ķes feministas. N√£o √©, pois, por acaso que, em sua reta final, diante de um cen√°rio frio e despolitizado, resultado para o qual os candidatos - institu√≠dos em ide√≥logos da d√°diva como recurso de mobiliza√ß√£o eleitoral - est√£o longe de serem inocentes, essas elei√ß√Ķes culminem, lastimavelmente, com o reconhecimento, inclusive em documentos oficiais de candidatos, de que caberia um lugar na vida republicana brasileira para as formas mais primitivas do fundamentalismo religioso.
Para esse desastrado resultado, n√£o conspiraram, em suas convic√ß√Ķes pessoais, inequivocamente modernas e progressistas, nem Serra nem Dilma, mas sim essa dita pol√≠tica do social reinante entre n√≥s, produzida de cima para baixo, e que subestima a capacidade da sociedade de se auto-organizar sem a indu√ß√£o benevolente de um governo compadecido. Da√≠ que outro efeito, certamente inesperado, do car√°ter benfazejo dessas elei√ß√Ķes √© o de ter demonstrado aos movimentos sociais e √†s suas organiza√ß√Ķes que a realiza√ß√£o de suas aspira√ß√Ķes depende das for√ßas pr√≥prias de que falava Rousseau, e n√£o do Estado e de suas ag√™ncias, que, por natureza, s√£o prisioneiros da l√≥gica da conserva√ß√£o e expans√£o do poder pol√≠tico. Por ora, o movimento feminista √© a melhor testemunha disso.
Matéria de princípio (11 out.)
Vamos para a fase decisiva da sucess√£o presidencial sem a presen√ßa da personalidade e do discurso que a salvaram, especialmente no final da campanha, da rotina regida pelo marketing eleitoral. Com Marina, de algum modo, o mundo da vida - no seu l√©xico, uma pol√≠tica para o s√©culo XXI com eixo na solidariedade e na coopera√ß√£o social - encontrou passagem na disputa que se concentrava nos candidatos Dilma e Serra. Ambos indisfar√ßavelmente vindos da regi√£o sist√™mica da vida social, estat√≠sticas em punho, prometendo mundos e fundos, e chamando para si a responsabilidade de levar √† frente a moderniza√ß√£o econ√īmica e social do pa√≠s, cujos fundamentos, j√° conhecidos pelas pr√°ticas exitosas dos governos anteriores, n√£o deveriam ser objeto de controv√©rsias. Ao eleitor cabia apenas indicar qual deles seria o mais qualificado a fim de realizar essa tarefa consensual.
A leitura das urnas, contudo, subverteu o cen√°rio do primeiro turno. O voto da periferia, tal como visto na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em cujos bairros as fam√≠lias de baixa renda se constituem em maioria, n√£o demonstrou ser um monop√≥lio do PT, como era de se esperar em raz√£o das pol√≠ticas assistencialistas do governo. Nessa regi√£o, a candidata do PV rondou em torno dos 33% dos votos (O Globo, 05/10/10, p. 14), fen√īmeno que se reiterou exemplarmente na cidade de Volta Redonda, outrora cidade s√≠mbolo da industrializa√ß√£o do pa√≠s, em que ela foi a vitoriosa com 40,02% da vota√ß√£o contra 39,53 de Dilma e apenas 18,7 de Serra, e nos surpreendentes resultados de Recife, com seus 36,73% contra os 42,92% de votos para Dilma (Valor, 06/10/10, p. A16), em meio a um oceano de sufr√°gios da chapa da situa√ß√£o.
A pesquisa dos especialistas no estudo do voto decerto que trar√° mais luz sobre essa inesperada rebeli√£o do voto popular, que dissentiu da orienta√ß√£o que lhe vinha das estruturas partid√°rias, das m√°quinas eleitorais dos governos, inclusive de organiza√ß√Ķes religiosas influentes, principalmente as de ades√£o evang√©lica, como, no caso do Rio de Janeiro, da poderosa Assembleia de Deus. Mas, desde logo, est√° claro que a religi√£o, para o bem e para o mal, est√° participando do processo eleitoral e que a identidade evang√©lica de Marina contribuiu em n√£o pequena monta para o seu sucesso eleitoral nos setores subalternos da sociedade.
A votação em Marina, porém, claramente transcendeu o voto evangélico, como atesta a consulta do voto de urnas de zonas eleitorais das camadas médias. O tema do meio ambiente, com audiência crescente na sociedade, em particular na juventude, certamente teve um peso considerável, mas a questão que importa reter é que sua votação extravasou do seu nicho temático.
A insist√™ncia com que muitos analistas procuram explicar o seu voto pela religi√£o ou pela quest√£o ambiental - h√° quem fale no voto chique em Marina - deixa de fora a marca√ß√£o pol√≠tica do seu discurso, sua √™nfase nos valores republicanos e, principalmente, em um debate cujo centro gravitava em torno de pap√©is a serem conferidos ao Estado, sua op√ß√£o em se dirigir √† sociedade civil em busca de solu√ß√Ķes.
Contudo, mesmo sem a candidatura de Marina, n√£o h√° revers√£o poss√≠vel ao quadro anterior, protagonizado pelas quest√Ķes sist√™micas, em que o mundo popular era interpelado apenas como consumidor de bens e servi√ßos. O invent√°rio de boas quest√Ķes trazidas por ela certamente ser√° reapresentado ao eleitor pelos candidatos que seguem na disputa. Mas, sobre a leitura desse primeiro turno, que ora deixamos para tr√°s, paira um risco a ser erradicado pela raiz, qual seja, o de franquear o espa√ßo republicano √† a√ß√£o da religi√£o e, sinal sinistro, a grupos religiosos fundamentalistas.
Quanto a essa decisiva quest√£o n√£o se pode deixar de registrar que, sob o governo Lula, em tratativas com os v√©rtices da Igreja Cat√≥lica, j√° foram dados passos de rendi√ß√£o do Estado - laico, por defini√ß√£o constitucional - em mat√©ria de ensino religioso nas escolas p√ļblicas, ainda pass√≠veis de extens√£o a outras designa√ß√Ķes religiosas.
Tamanha presen√ßa da religi√£o no cora√ß√£o da vida republicana que √© a escola p√ļblica, iniciativa ainda a ser concretizada, s√≥ encontra paralelo no regime de Vargas (um positivista sem religi√£o), quando se permitiu, em 1931, que se instalasse no cimo da eleva√ß√£o conhecida como Corcovado, em plena capital federal, a est√°tua do Cristo Redentor. E, poucos anos mais tarde, at√© por press√Ķes exercidas pela hierarquia cat√≥lica, se destru√≠sse a not√°vel experi√™ncia, ent√£o nos seus in√≠cios, da Universidade do Distrito Federal, projeto liderado pelo grande educador Anisio Teixeira, em raz√£o da sua natureza laica e republicana.
Mais uma converg√™ncia - pouco notada, por√©m sintom√°tica - entre as eras de Vargas e a de Lula. (De passagem, para quem quiser conhecer a posi√ß√£o de contesta√ß√£o dos republicanos liberais hist√≥ricos ao ensino religioso nas escolas p√ļblicas, consultar A Ilustra√ß√£o Brasileira, de Roque Spencer Maciel de Barros, cl√°ssico de 1986).
Mas, se h√° recuos quanto √† natureza laica do Estado, na sociedade civil, em particular no mundo da vida dos setores subalternos, o quadro ainda √© mais complexo: a religi√£o, a√≠, √© com frequ√™ncia a principal via de comunica√ß√£o da popula√ß√£o com as ag√™ncias republicanas. Nesse mundo, nas d√©cadas de meados de 1960 a 1980, a pol√≠tica foi banida pela repress√£o do regime militar, e, no vazio que restou, infiltraram-se os administradores de clientelas, o narcotr√°fico e as mil√≠cias. E, √† falta de rep√ļblica, a religi√£o e seus diversos cultos se institu√≠ram como um dos poucos lugares de a√ß√£o aut√īnoma nesses territ√≥rios onde vige a lei da natureza.
√Äs institui√ß√Ķes republicanas cabe respeit√°-los e compreender o seu papel positivo na forma√ß√£o civil do povo, mas sem se render em mat√©ria de princ√≠pio, por c√°lculos eleitorais, a express√Ķes de fundamentalismo religioso, como nessa intempestiva quest√£o sobre o aborto. Esse talvez o metro que nos faltava na sucess√£o presidencial, a fim de discriminar com nitidez o estadista do mero oportunista com seu Maquiavel mal compreendido.
O calend√°rio e a coluna (4 out.)
A elei√ß√£o j√° passou e o leitor j√° conhece o seu resultado, mas esta coluna, necessariamente escrita antes dela, foi condenada pelo calend√°rio a desconhec√™-lo. Resta a ela cogitar sobre o processo - ainda em curso? - de uma das sucess√Ķes mais frias da hist√≥ria da moderna democracia brasileira, vale dizer, das que se realizaram a partir de 1989. E sobre isso h√° muito do que cogitar, muito joio a separar do trigo, muita suspic√°cia contra o plano liso das apar√™ncias e das pretens√Ķes do senso comum.
A come√ßar pela constata√ß√£o de que as pr√°ticas da vida pol√≠tica democr√°tica se v√™m constituindo em rotina, uma segunda pele no cidad√£o brasileiro, que j√° as compreende como a via real para a realiza√ß√£o de seus interesses e de suas expectativas por direitos, deixando para tr√°s o tempo em que aguardava interven√ß√Ķes providenciais. Dilma, Serra, Marina distam anos-luz de qualquer veleidade providencial.
Nessa sucess√£o, n√£o houve quem amea√ßasse, em atos ou palavras, as institui√ß√Ķes. Um dos melhores exemplos desse novo estado de coisas se encontra na iniciativa da sociedade civil, chancelada pelo parlamento, e que se converteu na chamada lei da ficha limpa, cujo impacto benfazejo no processo eleitoral foi, agora, experimentado pela primeira vez.
Essa √© uma inova√ß√£o de n√£o pequena monta, e na esteira dela refor√ßaram-se tanto os instrumentos como os procedimentos criados pelo legislador para zelar pelo car√°ter republicano da administra√ß√£o p√ļblica, em particular a Justi√ßa Eleitoral, o Minist√©rio P√ļblico e a Controladoria-Geral da Uni√£o. E nunca √© demais lembrar que a moralidade p√ļblica √© um princ√≠pio constitucional da rep√ļblica brasileira, e n√£o um atavismo cedi√ßo de combates eleitorais de tempos de antanho.
De outra parte, contrariando o diagn√≥stico de que nada teria mudado na cena pol√≠tica, uma vez que, nessas elei√ß√Ķes, ter-se-ia reiterado a polariza√ß√£o entre o PT e o PSDB, est√° a√≠ a emerg√™ncia do PV, que foi representado por uma candidatura competitiva, possui quadros qualificados e uma lideran√ßa nacional, Marina Silva, cuja presen√ßa pol√≠tica certamente n√£o se limitar√° a esse epis√≥dio eleitoral. Os verdes t√™m audi√™ncia internacional e, a essa altura, como se fez demonstrar nessa campanha, est√£o conscientes de que seu programa e discurso necessitam se ancorar em temas e projetos de alcance geral, fundamentalmente traduzindo em linguagem corrente o que compreendem como desenvolvimento sustent√°vel, lema forte da sigla. Desde logo, pode-se arriscar que, no novo governo, inclusive na pr√≥xima disputa presidencial, Marina, seus temas e o seu partido ser√£o pe√ßas importantes no tabuleiro.
Maior import√Ęncia ainda ter√° o PMDB, com a vice-presid√™ncia - no caso da elei√ß√£o de Dilma -, seus governadores, prefeitos e sua poderosa bancada congressual. Sem Lula para mediar a rela√ß√£o dif√≠cil desse partido com o PT, os custos de transa√ß√£o entre eles n√£o ser√£o pequenos, em especial se a agenda presidencial se fixar em quest√Ķes altamente controversas, tais como as da reforma pol√≠tica, da previd√™ncia, da trabalhista e tribut√°ria. Em qualquer caso, a linha de governo de Dilma, que dever√° evitar rotas de conflagra√ß√£o, n√£o ser√° a do seu partido, mas o da sua coaliz√£o. A oposi√ß√£o estar√° fincada nos governos dos dois principais estados de federa√ß√£o, S√£o Paulo e Minas Gerais, mais uma circunst√Ęncia a refor√ßar o papel do PMDB no futuro governo.
Os partidos ditos nanicos da esquerda, que n√£o foram t√£o mal como se alega - basta ver o desempenho da candidatura Pl√≠nio e sua audi√™ncia na juventude universit√°ria -, se tiveram poucos votos, souberam aproveitar o hor√°rio eleitoral a fim de marcar posi√ß√Ķes, e alguns deles saem da campanha com seus quadros renovados. Outro sintoma de que √† esquerda sopram ventos de mudan√ßa est√° na vit√≥ria da central Conlutas, vinculada ao PSTU, sobre a CUT na disputa eleitoral recente travada no estrat√©gico sindicato dos metrovi√°rios de S√£o Paulo.
Esse lugar da pol√≠tica, at√© h√° pouco um monop√≥lio do PT, hoje √† deriva em raz√£o do posicionamento ao centro do espectro pol√≠tico por parte desse partido, diante das grandes transforma√ß√Ķes sociais em curso, n√£o deve permanecer vazio. Especialmente, como se espera, se os imperativos de racionalidade da moderna ordem burguesa brasileira impelirem o governo no sentido das reformas trabalhistas e previdenci√°rias, as duas j√° presentes, √†s vezes apenas em registro subliminar, nos discursos de Dilma.
Do mundo agr√°rio, por sua vez, s√£o claros os novos sinais de mudan√ßas a que o processo pol√≠tico n√£o poder√° ser indiferente. Desde as discuss√Ķes sobre a reforma do C√≥digo Florestal, tendo como refer√™ncia a quest√£o nacional, testemunha-se uma imprevista aproxima√ß√£o entre o agroneg√≥cio e setores da esquerda, no caso representada por um parlamentar do PCdoB, Aldo Rabelo, que se tem traduzido em apoio de certos c√≠rculos do capitalismo agr√°rio brasileiro √† sua reelei√ß√£o.
O fen√īmeno n√£o √© nada trivial, uma vez que, tradicionalmente, √© dessa regi√£o do mundo que prov√™m, √† direita e √† esquerda, express√Ķes de radicaliza√ß√£o pol√≠tica. O alinhamento ao centro dos nossos c√ļlaques, caso as tend√™ncias atuais se afirmem, n√£o condiz com as previs√Ķes de imutabilidade do nosso sistema pol√≠tico. A ver, ainda, o que o MST tem a dizer sobre isso, dado que essa reviravolta lhe tira um bom peda√ßo de ch√£o.
√Č enganosa, ent√£o, essa placidez de √°guas paradas, percep√ß√£o equ√≠voca a que fomos levados pela modorrenta sucess√£o de que acabamos de sair. A vida est√° √† espreita esperando sua boa hora.
A caveira de burro e a democracia (27 set.)
Consta, nos velhos anais do futebol, que um grande time do Rio de Janeiro, apesar de contar com um bom elenco de jogadores, nitidamente superior ao dos seus advers√°rios, vinha acumulando, anos a fio, fracassos nas competi√ß√Ķes esportivas. Desenganando-se de explica√ß√Ķes racionais para os seus insucessos, registram aqueles anais, teria, ent√£o, recorrido a pesquisar o sobrenatural, uma vez que s√≥ nele poderia estar escondida a causa inexplic√°vel dos seus males.
A hipótese, que ganhou a imaginação de alguns dos seus aficionados, foi a de que torcedores malévolos de um time rival teriam enterrado uma caveira de burro sob uma das balizas do campo da sua agremiação. Voltar aos tempos de suas antigas glórias demandava localizar a mandinga nefasta, afinal encontrada depois de muita escavação. Conta-se que, pouco tempo depois, o clube malsinado conquistou o campeonato.
Lenda ou n√£o, j√° d√° para desconfiar, no caso da hist√≥ria brasileira, de que esteja escondida, em algum ponto entre o Oiapoque e o Chu√≠, a caveira de burro que impede a democracia brasileira de se afirmar como um experimento novo, desembara√ßando-se do seu passado - n√£o necessariamente rompendo com ele - a fim de arremeter inovadoramente rumo ao futuro. Com efeito, na passagem da monarquia √† rep√ļblica, l√° estava ela conspirando para que o largo movimento da opini√£o p√ļblica em favor do abolicionismo, com a agenda de reformas sociais e pol√≠ticas de publicistas como Joaquim Nabuco e Andr√© Rebou√ßas, se perdesse no novo regime, como certificaria a guerra contra Canudos, um vilarejo de deserdados da terra no sert√£o brasileiro.
Nos anos 1920, talvez os anos dourados no processo de emerg√™ncia da sociedade civil brasileira, mais uma vez l√° est√° ela, com sua presen√ßa aziaga, a fechar os caminhos. Recuperemos apenas um ano, o de 1922: √© nele que se funda o Partido Comunista, de extra√ß√£o genuinamente oper√°ria, criado por quadros atuantes nas greves de 1917/19 em torno de reivindica√ß√Ķes por direitos sociais e pol√≠ticos; presen√ßa moderna, pois, dos interesses dos setores subalternos no sentido de ampliar o demos, a fim de se garantir nele com voz e voto.
Nesse mesmo ano, sobrev√©m a rebeli√£o da juventude militar, com o inaudito do levante do Forte de Copacabana contra as for√ßas do Estado, em nome de exig√™ncias democr√°ticas pela verdade do voto contra a corrup√ß√£o e a fraude no processo eleitoral; na esteira desse movimento, que encontra respaldo e resson√Ęncia na opini√£o p√ļblica, seguem-se, em 1924, a rebeli√£o em armas do tenentismo em S√£o Paulo, e a chamada Coluna Prestes, que, sempre em nome de ideais da sociedade civil da √©poca e com amplo apoio dela, lutam por abrir passagem ao moderno no pa√≠s.
Entre os intelectuais, o movimento do modernismo traz √† cena a presen√ßa da nossa paisagem social e f√≠sica, em uma ida ao povo que vai amadurecer na obra, entre tantos, de um M√°rio de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti, Di Cavalcante, talvez sobretudo em Villa-Lobos. Embora t√™nue, h√° comunica√ß√£o entre esses mundos, que o decurso do tempo prometia incrementar. Astrojildo Pereira, o l√≠der dos comunistas, frequenta os tenentes, frequentados tamb√©m por intelectuais modernistas, e alguns deles, poucos anos mais tarde, como Oswald de Andrade e Pagu, ter√£o fortes liga√ß√Ķes com os comunistas.
Al√©m disso, em particular na m√ļsica popular, surgem manifesta√ß√Ķes de intelectuais formados no conv√≠vio com o mundo popular, e o exemplo mais poderoso √© o de Noel Rosa, que n√£o √† toa celebrou como uma de suas musas uma oper√°ria de uma f√°brica de tecidos, que, ali√°s, era indiferente √† buzina do seu carro. De empres√°rios, como na a√ß√£o social do capit√£o de ind√ļstria t√™xtil de S√£o Paulo, Jorge Street, provinham igualmente sinais de mudan√ßas.
A chamada revolu√ß√£o de 1930 reverteu esse processo tendencialmente virtuoso para os fins de se instituir uma rep√ļblica democr√°tica. Sob a inspira√ß√£o do racionalismo positivista, que medrara no Rio Grande do Sul, a agenda do moderno √© capturada pelo Estado, que traz para si a administra√ß√£o da quest√£o social - o Minist√©rio do Trabalho, rec√©m-criado, √© denominado o Minist√©rio da Revolu√ß√£o -, dando partida a uma legisla√ß√£o trabalhista que, a par de institucionalizar direitos, vai impor uma r√≠gida tutela do Estado sobre a vida sindical.
O Estado se p√Ķe √† frente do projeto de moderniza√ß√£o do pa√≠s, que ingressa no modelo corporativo, ent√£o em moda em pa√≠ses de capitalismo retardat√°rio, como no caso da It√°lia fascista, cuja Carta del Lavoro servir√° de inspira√ß√£o para nossa legisla√ß√£o sindical, e se apresenta, diante de sua sociedade, como mais moderno que ela. A Rep√ļblica se amplia, incorporando a ela novos setores sociais, ao alto pre√ßo, por√©m, da perda de autonomia da sua sociedade.
Essa precedência do Estado sobre a sua sociedade - conforme a conjuntura, em graus variados - varou décadas de vida republicana, afiançando, salvo o curto interregno dos anos 1961/1964, o predomínio dos interesses conservadores e da sua expressão política, com o que se preservou, em um país que se modernizava rapidamente, a estrutura agrária de propriedade latifundiária.
Se vale o que est√° escrito, essa sombria tradi√ß√£o teria sido interrompida com a democratiza√ß√£o do pa√≠s, em 1985, que teve na valoriza√ß√£o da sociedade civil um dos seus conceitos-chave, e, como tal, encontrou consagra√ß√£o institucional na Carta de 1988, endere√ßada √† cria√ß√£o de uma rep√ļblica democr√°tica entre n√≥s.
Esqueceu-se, no entanto, em meio a tantos esfor√ßos para realizar esse generoso programa, de remover a caveira de burro que, com seus sortil√©gios, atenta contra a nossa sorte. E eis que ressurgem, pelas m√£os de um governo, cujas origens partid√°rias est√£o fincadas no terreno da sociedade civil, as velhas assombra√ß√Ķes da rep√ļblica autorit√°ria brasileira, como o nacional-estatismo, o corporativismo, o vi√©s antirrepublicano em nome de imperativos da democracia substantiva, e, pior, os ideais gr√£o-burgueses de pot√™ncia mundial. S√≥ pode ser a caveira de burro.
O lulismo sem Lula (20 set.)
Esta coluna, pelos idos de agosto, já em meio à sucessão presidencial, deixou-se tentar por uma metáfora meteorológica, anunciando que ao longe soprava um vento sudoeste, sinal certo de chuva grossa. Bem, as chuvas chegaram, como se pode constatar das palavras, em um registro quase filosófico, como que apenas observando a mudança climática, com que o ex-ministro José Dirceu dirigiu-se em palestra a sindicalistas. Não será Lula quem sucederá a Lula, mas Dilma, e nem mesmo os marinheiros de primeira viagem, que são tantos, podem ficar indiferentes a mudanças de tal envergadura no regime dos ventos.
Fora da tripula√ß√£o, o grande timoneiro desses √ļltimos oito anos dever√°, √© claro, manter sua influ√™ncia sobre a sua sucessora, embora, na pr√°tica, mesmo isso n√£o seja uma opera√ß√£o f√°cil, sempre sob o risco de fragiliz√°-la na chefia do Estado e dos neg√≥cios da administra√ß√£o p√ļblica.
Ainda mais que, a se confiar nos relatos sobre sua biografia, ela aparenta ser suscet√≠vel a arranh√Ķes em sua autoridade. Sem Lula, √© trivial, o lulismo sai do governo, e o que fica nele √© o PT e sua imensa base aliada, √† testa o PMDB, com um dos seus principais condest√°veis, Michel Temer, no posto estrat√©gico da Vice-Presid√™ncia da Rep√ļblica.
O programa do novo governo, dito à saciedade na campanha eleitoral que ainda transcorre, não é o de fundar principado novo, e sim o de imprimir continuidade às linhas mestras do que sucede, e personagens como Antonio Palocci, Henrique Meirelles e Nelson Jobim, salvo incidentes extraordinários, devem ocupar postos-chave. Da base aliada, reanimados por prováveis vitórias eleitorais, deverão permanecer no proscênio políticos de genuína cepa conservadora, como José Sarney, Renan Calheiros, entre tantos outros de perfil semelhante, todos comprometidos, no essencial, com a continuidade dos princípios e práticas do governo Lula, principalmente com a sua expressão pluriclassista, em um arco que vai do agronegócio, passando pelo grande empresariado e pelo sindicalismo, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Tais princípios e práticas não estão enunciados em um programa, consistindo, na verdade, em uma política a que se chegou erraticamente, reagindo-se às contingências das conjunturas interna e externa, particularmente em dois momentos cruciais: a crise, em 2005, do chamado "mensalão", que demonstrou ao governo a necessidade de ampliar a sua base de sustentação congressual, levando o governo à incorporação do PMDB; e a crise, em fins de 2008, do sistema financeiro mundial.
As respostas aos duros desafios que se apresentaram nessas oportunidades, a primeira delas admitindo a possibilidade de um impeachment, a segunda, pondo em risco a economia do país, acabaram por se traduzirem em um sistema de orientação política não escrito, implicando uma reinterpretação, em chave positiva, da história brasileira, em especial com a valorização do papel do seu Estado.
O cerne desse sistema de orientação está no seu caráter pluriclassista e pluripartidário, reafirmado sem equívocos na campanha da candidata situacionista, em seu objetivo de consolidar e aprofundar a experiência do capitalismo brasileiro, tendo em vista inclusive a ultrapassagem dos seus limites nacionais, para o que conta com o Estado e suas agências produtivas e financeiras como instrumentos estratégicos. Dele igualmente fazem parte políticas destinadas à inclusão social de setores marginalizados, na forma dos programas de assistência social em curso.
O lulismo √© isso e mais as habilidades de comunica√ß√£o do seu inventor, especialmente na sua rela√ß√£o compadecida com as massas mais pobres da popula√ß√£o. Reinterpreta, pois, a hist√≥ria do pa√≠s, ao se p√īr em linha de continuidade com ciclos afirmativos da moderniza√ß√£o brasileira, como os de Vargas, o de JK e o do regime militar, contrapondo-se √† vers√£o do PT, que, desde as suas mais remotas origens, foi refrat√°ria a pol√≠ticas centradas na quest√£o nacional e em estrat√©gias de moderniza√ß√£o "pelo alto".
N√£o h√° motivo para espanto com o diagn√≥stico de que, em um eventual governo Dilma, se assim o quiserem as urnas, poder√£o ocorrer fortes tens√Ķes entre o lulismo e o PT - certamente com sua nova representa√ß√£o congressual bem mais encorpada -, que n√£o conhecer√£o mais a arbitragem de Lula detendo os poderes de chefe de Estado. No caso, √© de se esperar que as interven√ß√Ķes escoradas no carisma cedam lugar √† pol√≠tica, inclusive porque Dilma, intocada por esse sortil√©gio, dever√° governar com a alian√ßa que suporta sua candidatura - √© falso dizer, n√£o se perde por esperar, que seus aliados n√£o tenham ideias, apenas interesses -, e o PMDB, como j√° se sabe, se n√£o compuser a maior bancada nas duas casas congressuais, ficar√° bem perto disso.
Por onde se devassa o horizonte, os sinais são os da volta da política. Os caminhos de hoje, filhos da contingência, saberão encontrar justificação no terreno aberto da batalha das ideias? Haverá intelectuais entre nós capazes de defender persuasivamente, para além dos sussurros de hoje, uma via de "nacionalismo revolucionário" em aliança com a burguesia, y compris o agronegócio? A esquerda está pronta a se reencontrar com os caminhos da democracia como valor universal, que já encontrou abrigo até em setores do próprio PT? De qualquer forma, o tempo é novo e próprio à navegação, mesmo que se saiba, de ciência certa, que a rota que tiver curso vai se defrontar com o carisma de Lula rondando por aí
Para onde estamos indo? (13 set.)
O argumento desta coluna de hoje n√£o vai obedecer a uma linha reta, mas √© fato fora de qualquer contesta√ß√£o que a estabilidade das institui√ß√Ķes da democracia representativa ao longo dessas √ļltimas tr√™s d√©cadas tem repercutido positivamente no sentido de favorecer pol√≠ticas p√ļblicas destinadas a minorar o grau de exclus√£o dos setores subalternos da nossa sociedade. Pesquisas recentes t√™m at√© demonstrado um crescimento significativo de um mercado consumidor com padr√Ķes t√≠picos das classes m√©dias, resultado da eleva√ß√£o das rendas de parcelas da popula√ß√£o situadas desde sempre na base da pir√Ęmide social.
Para tanto, têm contribuído o poderoso legado da Carta de 1988 em matéria de regulação da questão social brasileira, o atual bom desempenho da economia, assim como as políticas orientadas para o aumento do salário-mínimo e os programas de cunho assistencialista com foco nos setores socialmente mais vulneráveis.
À primeira vista, confirma-se, portanto, uma das melhores expectativas da agenda de lutas da resistência democrática contra o regime autoritário dos anos 1964/85, que vinculava as exigências de democratização social ao avanço continuado da democracia política. Com efeito, sob um regime democrático, em um mercado político de massas, pelo voto, as grandes maiorias vêm encontrando os meios, principalmente nos momentos eleitorais, para que algumas de suas demandas mais sentidas sejam incorporadas pelos que buscam a sua representação.
Contudo, outra forte expectativa daquela agenda era a de que, com a afirma√ß√£o de um regime de liberdades civis e p√ļblicas, a cidadania reuniria, afinal, condi√ß√Ķes para adensar a sociedade civil, alargando a esfera p√ļblica com a participa√ß√£o de organiza√ß√Ķes sociais aut√īnomas do Estado - a pr√≥pria Carta de 1988 declarou que, al√©m de representativa, a democracia brasileira seria participativa, atribuindo ao cidad√£o um papel ativo na condu√ß√£o do seu destino. N√£o √© dif√≠cil admitir, diante do atual estado de coisas, que tal expectativa tem sido frustrada.
Decididamente, esteve muito longe das cogita√ß√Ķes dos fundadores da moderna rep√ļblica democr√°tica brasileira apartar a sociedade civil do seu Estado, e, menos ainda, conferir primazia a este nas suas rela√ß√Ķes com ela, na forma que se vem impondo nos √ļltimos anos, inclusive por meio de nexos corporativos que instalam no seu interior movimentos sociais organizados, como o sindicalismo. Tal forma n√£o obedece a qualquer desenho institucional legitimado pelo legislador, resultante, em boa parte e na melhor das hip√≥teses, das conting√™ncias da pol√≠tica e das rea√ß√Ķes dos atores no sentido de buscar solu√ß√Ķes para elas.
Alguns momentos ilustram esse processo: a fixa√ß√£o, a todos os t√≠tulos justific√°vel, no governo Itamar Franco, da luta contra a infla√ß√£o como objetivo primordial da a√ß√£o do Estado; e, no governo Lula, a ado√ß√£o de uma agenda de interven√ß√£o na quest√£o social como pol√≠tica de Estado - para esse fim, criou-se o Minist√©rio de Desenvolvimento Social e Combate √† Pobreza - e de uma estrat√©gia de moderniza√ß√£o conduzida pela a√ß√£o estatal. Em pol√≠ticas dessa natureza, o decisivo depende de interven√ß√Ķes sist√™micas com origem nos centros de poder, que, para melhor perseguirem seus fins, se insulam da sociedade, part√≠cipe passivo desses processos.
O sucesso do Plano Real, notoriamente, n√£o se limitou a sanear e a racionalizar a economia, repercutindo fortemente na melhoria das condi√ß√Ķes de vida dos setores subalternos, que, por duas vezes, forneceram um expressivo contingente de votos para que FHC, um dos respons√°veis por ele, fosse conduzido √† Presid√™ncia no primeiro turno das elei√ß√Ķes. Estabeleceu-se a√≠ um encontro feliz, com uma m√≠nima intermedia√ß√£o da pol√≠tica, entre a alta tecnocracia estatal e o homem comum. Igualmente com m√≠nima intermedia√ß√£o da pol√≠tica, por meio de interven√ß√Ķes tecnocr√°ticas, Lula, ao massificar pol√≠ticas de assist√™ncia social, antes de √Ęmbito reduzido, propiciou outro encontro feliz do governo com as massas desvalidas da popula√ß√£o. Em estilo semelhante, a partir do seu segundo mandato, adotou um modelo de moderniza√ß√£o t√≠pico de processos capitalistas politicamente orientados, mas, a√≠, j√° para a felicidade das grandes empreiteiras e de outros setores do grande capital.
S√£o, portanto, quatro mandatos de governos do PSDB e do PT, em que alguns dos seus principais √™xitos sociais e econ√īmicos tiveram a caracter√≠stica comum - mais uma converg√™ncia entre eles - de serem resultados, diante de uma sociedade imobilizada politicamente, de interven√ß√Ķes do Estado e de suas ag√™ncias especializadas na regula√ß√£o da economia e na do social. Nada de surpreendente, ent√£o, que a pol√≠tica esteja em baixa, a ponto do nosso principal partido de massas, o PT, ter sido ultrapassado pelo lulismo, uma representa√ß√£o nua do social que apenas tolera a pol√≠tica como um mal necess√°rio. No caso, vale comparar com o que sucede com as reformas sociais empreendidas pelo governo Barack Obama, especialmente a da pol√≠tica de sa√ļde, que t√™m implicado, no seu encaminhamento, uma m√°xima intermedia√ß√£o da pol√≠tica na sociedade americana.
Nessa sucess√£o, que transcorre em meio a uma melanc√≥lica apresenta√ß√£o de dados sobre indicadores sociais, a pol√≠tica √© a grande ausente, em que os principais candidatos sequer revelam seus programas de governo e passam ao largo, em uma sociedade com suas tradi√ß√Ķes fincadas no autoritarismo pol√≠tico, das discuss√Ķes sobre como aperfei√ßoar a democracia entre n√≥s. A pol√≠tica, em registro minimalista, resta submersa no social - a quest√£o agr√°ria, √© claro, fora, porque ela politiza tudo -, como uma pedra no caminho. Ela √© o caminho, e n√£o h√° bons pretextos para ignor√°-la, nem para que se procurem atalhos fora dela em nome de presumidas raz√Ķes de justi√ßa e de imperativos de grandeza nacional. A prop√≥sito, para onde mesmo estamos indo?
Que social-democracia é esta? (6 set.)
N√£o √© preciso recuar muito no tempo, pois s√£o de ontem os debates, na Fran√ßa e nos Estados Unidos, que confrontaram os candidatos √† presid√™ncia Nicolas Sarkozy e S√©gol√®ne Royal, no primeiro caso, e Barack Obama e John McCain, no segundo, quando, com audi√™ncia mundial, cada um dos oponentes apresentou seus diagn√≥sticos sobre o estado de coisas reinante em seus pa√≠ses e os programas de a√ß√£o em que iriam se empenhar, caso vitoriosos. Evidente e natural que os temas selecionados e o tipo de desempenho adotado por eles estavam largamente informados por pesquisas de opini√£o e por especialistas em marketing eleitoral, mas tamb√©m ficou evidente, nas interven√ß√Ķes espont√Ęneas, no calor das controv√©rsias, a marca personal√≠ssima de cada candidato nas quest√Ķes mais sentidas de suas sociedades, como a imigra√ß√£o, a guerra, os rumos da economia e da administra√ß√£o da quest√£o social. Sequer faltaram as que tinham por objeto a pr√≥pria interpreta√ß√£o de suas hist√≥rias nacionais, como nas famosas interpela√ß√Ķes de Barack Obama ao invent√°rio das tradi√ß√Ķes americanas.
Ora, direis, ouvir estrelas… Não haveria termo de comparação entre essas duas sociedades, vanguardas do Ocidente desenvolvido, com a brasileira, e, assim, não se deveria esperar que a campanha presidencial em curso reeditasse o seu padrão de debates. Na velha pauta do nosso pensamento conservador, deveríamos admitir a natureza refratária da massa dos indivíduos subalternos aos temas abstratos e complexos, apenas capazes de dar ouvidos a quem deles se aproximar com um dom materialmente tangível. Seria deles, afinal, a responsabilidade pela pobreza dos debates, e, assim, mais uma vez, explica-se a falta de imaginação e o caráter personalista da nossa política como resposta funcional à rusticidade da nossa sociologia.
Dessa forma, a campanha presidencial quando se destina √†s massas deserdadas do Nordeste se torna ref√©m das pol√≠ticas de programas assistencialistas, a serem expandidos e aperfei√ßoados na linguagem comum dos candidatos. Se o estado de emerg√™ncia em que vivem justifica esse tipo de interven√ß√£o, n√£o h√° raz√£o alguma para que n√£o se introduzam nos debates sucess√≥rios a quest√£o crucial da transposi√ß√£o do rio S√£o Francisco, com os temas a ela correlatos, para a qual a popula√ß√£o sertaneja, caso exposta √†s controv√©rsias nela presentes, saberia manifestar as suas prefer√™ncias. Sobretudo no que dissesse respeito √†s novas oportunidades que se poderiam abrir para que, ela pr√≥pria, viesse a reunir condi√ß√Ķes para reinventar a sua forma de inscri√ß√£o no seu mundo. O mesmo em rela√ß√£o √†s popula√ß√Ķes a serem afetadas pelas interven√ß√Ķes nas bacias hidrogr√°ficas j√° em andamento ou em fase de planejamento no Norte do pa√≠s.
Contudo, o modelo da social-democracia neocorporativa √† brasileira, admitindo-se como adequada essa conceitua√ß√£o em voga sobre o que seria, de FHC a Lula, a caracteriza√ß√£o do sistema de governo atual, demonstra confiar muito pouco na sociedade civil. Seu atraso constitutivo e sua tradicional fragmenta√ß√£o n√£o favoreceriam que a livre explicita√ß√£o dos interesses conduzisse √†s solu√ß√Ķes mais justas e racionais, que dependeriam - em um diagn√≥stico que nos devolve √† demofobia de um Oliveira Vianna dos anos 1920/30 -, mais do que da arbitragem do Estado diante de interesses divergentes, da sua interven√ß√£o direta na qualidade de int√©rprete mais qualificado do interesse geral. Com essa pr√°tica, que tem prevalecido nestes anos do segundo mandato de Lula, felizmente ainda sem teoria que a escore, o melhor lugar para os movimentos sociais estaria nas adjac√™ncias do Estado ou no seu pr√≥prio interior.
Um exemplo significativo desse estado de coisas se encontra na vida sindical. A op√ß√£o por um modelo de sistema de sindicalismo negociado, em oposi√ß√£o ao legislado, consistiu em uma das marcas de origem da forma√ß√£o do PT, presente desde os tempos em que Lula era um sindicalista metal√ļrgico do ABC. Ainda fiel a essa inspira√ß√£o, o ent√£o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, destacado sindicalista e pr√≥cer do PT, interpretando delibera√ß√Ķes do F√≥rum Nacional do Trabalho, convocado pelo pr√≥prio governo, encaminhou a PEC 369/05, dizendo, em sua declara√ß√£o de motivos, reconhecer a necessidade de uma reforma que torne "a organiza√ß√£o sindical livre e aut√īnoma em rela√ß√£o ao Estado", vindo a fomentar "a negocia√ß√£o coletiva como instrumento fundamental para a solu√ß√£o de conflitos".
Nessa exposi√ß√£o de motivos, o ministro Berzoini identifica a exist√™ncia de "obst√°culos institucionais √† moderniza√ß√£o das rela√ß√Ķes sindicais", que estariam a impedir a a√ß√£o de uma representa√ß√£o aut√™ntica da vida associativa dos trabalhadores, e, entre outras medidas relevantes, prop√Ķe a desconstitucionaliza√ß√£o do princ√≠pio da unicidade sindical, clara op√ß√£o em favor da pluralidade sindical e da extin√ß√£o da contribui√ß√£o sindical. Como amplamente sabido, o governo recuou dessa proposta, mudando sua agenda sindical no sentido de destinar √†s centrais sindicais reconhecidas pela legisla√ß√£o um porcentual do arrecadado com a contribui√ß√£o compuls√≥ria, com o que veio a propiciar o retorno a pr√°ticas do corporativismo de Estado, que sempre combateu.
A cara nova da social-democracia à brasileira, se o conceito se aplica, data daí, de 2005, quando se disparou o comando de meia-volta, volver, e, em marcha batida, redescobrimos o Estado dos anos 1950/60. De lá para cá, já se passou uma campanha presidencial e estamos quase ao término de outra, sem que se discuta que social-democracia é esta, em que só cabe lugar para o Estado e sua ação paternal sobre a sociedade.
O Regresso (30 ago.)
N√£o est√° f√°cil compreender o que anda se passando. Se em 2002, ap√≥s a vit√≥ria eleitoral de Lula, houve quem a recebesse como uma queda da Bastilha, o que era um exagero, perdo√°vel em jovens militantes intelectuais do PT, se vier mais uma vit√≥ria agora em 2010, qualquer tentativa de interpret√°-la em chave grandiloquente √© puro disparate. Nada vai cair, ao contr√°rio, tudo o que a√≠ est√° vai se consolidar e mesmo se aprofundar. N√£o h√° paix√Ķes soltas nas ruas nem debates acalorados entre os principais candidatos √† sucess√£o presidencial que desfilam, em tom monoc√≥rdico, na TV e nas emissoras radiof√īnicas, seus pontos program√°ticos em mat√©rias de educa√ß√£o, sa√ļde e seguran√ßa, obedientes √† pauta que lhes empurram os seus especialistas em marketing eleitoral. Os dois principais candidatos oposicionistas sequer sugerem uma amea√ßa efetiva √†s linhas principais do governo e t√™m declarado em alto e bom som que ser√£o, no fundamental, cont√≠nuos a elas.
Tudo isso, mais o fato de tanto Serra como Dilma serem personagens avessos a histrionismos carism√°ticos, com perfis pol√≠ticos forjados em temas t√©cnicos da economia e da administra√ß√£o p√ļblica, seriam indica√ß√Ķes de que h√° algo de impostado nas manifesta√ß√Ķes exaltadas das hostes situacionistas, especialmente do presidente de honra do PT e da Rep√ļblica, como se esta sucess√£o importasse um confronto dram√°tico entre duas concep√ß√Ķes do mundo. E a partir de considera√ß√Ķes desse tipo, a an√°lise chega ao territ√≥rio das coisas indemonstr√°veis, porque n√£o se pode deixar de cogitar que √© Lula, e n√£o Dilma, o candidato √†s pr√≥ximas sucess√Ķes, agora em 2010, por interposta pessoa, e nas vindouras em carne e osso. E se assim for, o cen√°rio real em que se deve travar a disputa eleitoral n√£o pode ser o do trin√īmio sa√ļde, educa√ß√£o e seguran√ßa, nem o da quest√£o social em geral. Sob esse v√©u das promessas compadecidas, o que rolaria, de verdade, seria um projeto de poder e de acumula√ß√£o de mais poder.
A hip√≥tese, vista ao lado de uma s√©rie de outros indicadores, n√£o √© para ser negligenciada, especialmente quando se considera, no caso de vit√≥ria de Dilma, a possibilidade de uma convoca√ß√£o de uma assembleia constituinte, mesmo que de poderes limitados para fins de reformas pontuais, como a tribut√°ria e a pol√≠tica. N√£o se p√Ķe de volta ao tubo a pasta de dentes que se extraiu dele. Na eventualidade, toda a obra da Carta de 1988 estar√° sob risco, em particular o regime de freios e contrapesos que ela criou para impedir a tirania de maiorias eventuais, e sabe-se l√° qual modelo de democracia participativa vingaria com a vida associativa, inclusive os sindicatos, vinculada como est√° √†s ag√™ncias estatais.
A ficar com as imagens da Revolu√ß√£o Francesa, s√£o as do 18 Brum√°rio de que estamos mais pr√≥ximos, quando a na√ß√£o francesa, ao inv√©s de seguir em frente com sua experi√™ncia republicana, temerosa dos setores populares, fez a op√ß√£o de se voltar para o seu passado, retomando, em uma sociedade j√° prosaicamente burguesa, o mito napole√īnico. Aqui, ao que parece, ter√≠amos tamb√©m um encontro marcado com o nosso passado, com a ressurg√™ncia do mito de Vargas, embora, √© claro, estejamos em uma cena j√° esvaziada da carga dram√°tica das lutas anti-imperialistas dos anos 1950 e diligentemente empenhados no aprofundamento da experi√™ncia capitalista brasileira sem os obst√°culos, externos e internos, que Vargas conheceu e que levaram ao desfecho tr√°gico do seu governo. Melancolicamente, esse revival do varguismo n√£o se esquece de recordar o papel de pai dos pobres que lhe colou em sua campanha presidencial largamente vitoriosa; Vargas que, em suas √ļltimas palavras, conclamava a mobiliza√ß√£o popular em defesa do seu legado.
Mas por que essa viagem de volta na hist√≥ria, se h√° e havia um caminho promissor rumo ao futuro, na esteira do movimento de emerg√™ncia popular, que, com in√≠cios na resist√™ncia ao regime autorit√°rio, se espraiou nas d√©cadas seguintes com a conquista da Constituinte, no impeachment de Collor e na vit√≥ria do PT na sucess√£o de 2002? Por que se retornou ao anacr√īnico dilema, opondo a democracia formal √† substantiva, que grassa em surdina em certos c√≠rculos do poder? As respostas podem ser muitas, mas qualquer delas ser√° falsa se n√£o admitir que o princ√≠pio em vig√™ncia √© o de acumular poder pelo poder. E para quem est√° √† testa do Estado, em especial com as tradi√ß√Ķes de estadofilia que nos caracterizam, por que n√£o fazer dele o centro estrat√©gico da sua pol√≠tica?
Retorna-se, ent√£o, e agora com um mito vivo, ao modelo da moderniza√ß√£o, aos seus √≠cones intelectuais e ao tema do nacional-desenvolvimentismo. Como no Imp√©rio, findo o tempo em que a sociedade, no per√≠odo regencial, ganhou alguma autonomia diante do seu aparato burocr√°tico, podemos constatar que o Regresso, assim em mai√ļsculas, como se dizia em meados do s√©culo XIX, abre caminho, restaurando a majestade do Estado. A sociedade regride ao aceitar passivamente a verticaliza√ß√£o a que est√£o sujeitas as quest√Ķes que lhe dizem respeito, abdica do moderno, da autonomia de suas organiza√ß√Ķes, e at√© parece indiferente ao fato de as oligarquias tradicionais mais recessivas e c√ļpidas estarem instaladas nos postos de mando. Pachorrentamente, docemente resignada, com suas ruas emudecidas, a sociedade se prepara para revisitar o nosso abomin√°vel mundo velho.
O cidad√£o, o cliente e os intelectuais (23 ago.)
Será mesmo que estaríamos condenados pelo destino a avançar a pequenos solavancos, uma vez que essa seria uma marca inamovível, ancorada na forma conservadora com que nosso Estado veio ao mundo? Teria a sociedade, depois de experimentar tantas alternativas, acabado por se acomodar ao tempo lento e aos ganhos "moleculares"? Já não se ouvem vozes na Universidade - felizmente ainda isoladas, e que assim se conservem - a fazerem o elogio da modernização conservadora brasileira, forma autoritária que presidiu o nosso processo de industrialização, e que, como modalidade de mudança social, esteve presente em contextos nacionais que abriram passagem para o fascismo, tal como na Alemanha, Itália e no Japão? A tentação de rendição a esse processo, no que seria um encontro com a nossa verdadeira natureza, se generaliza e não pode ser mais ignorada. Se até pouco tempo atrás um Raymundo Faoro identificava com palavras sarcásticas um fio vermelho a vincular D. Pedro II com Vargas, hoje essa linha se esticou até Lula, passando pelo regime militar, e é saudada como benfazeja.
A sucess√£o em curso, a dar cr√©dito ao discurso dos candidatos que se encontram no topo das pesquisas eleitorais, parece confirmar esse movimento, em que todos disputam quem det√©m as credenciais para levar adiante uma hist√≥ria que deu certo e que segue uma linha reta de realiza√ß√Ķes nos objetivos nacionais. Agora, mais uma volta gradual nesse parafuso estaria para ser conclu√≠da, com a exposi√ß√£o do Estado e de suas pol√≠ticas p√ļblicas √†s press√Ķes que v√™m do voto e que demandam mais seguran√ßa, mais sa√ļde e educa√ß√£o, mais e melhores bolsas fam√≠lias. Em cada volta, o Estado, e a coaliz√£o pluriclassista que o sustenta, amplia a sua legitima√ß√£o e o dom√≠nio que exerce sobre sua sociedade ao estender a sua rede de incorpora√ß√£o a setores at√© ent√£o dela exclu√≠dos. Para ele, reserva o monop√≥lio da pol√≠tica, em nome de uma presumida delega√ß√£o que a sociedade lhe teria conferido gra√ßas a seus bons resultados na economia e na quest√£o social.
O despojamento pol√≠tico da sociedade, √† falta de uma justifica√ß√£o na teoria democr√°tica, recua para o campo de uma perspectiva √©tico-moral: a preced√™ncia da administra√ß√£o sobre a pol√≠tica se faz defender pela primazia que deve caber √† quest√£o social, pois, segundo seus termos, governar √© administrar, no registro da compaix√£o, sobre uma massa de seres dependentes, cabendo ao Estado e √†s suas ag√™ncias selecionarem os alvos preferenciais de suas a√ß√Ķes. O cidad√£o fica submerso no cliente, cabendo a ele decifrar, na hora do voto, qual o candidato mais confi√°vel para a realiza√ß√£o das promessas de ocasi√£o.
Nada disso √© distante das nossas mais remotas tradi√ß√Ķes, do Imp√©rio a Vargas, fincadas na preced√™ncia do Estado sobre a sociedade civil, e n√£o √† toa Oliveira Vianna, que as defendeu em sua obra produzida entre as d√©cadas de 1920/1930, t√£o esquecido at√© recentemente, tenha se tornado um autor de refer√™ncia nos estudos atuais sobre a forma√ß√£o do nosso pensamento social e pol√≠tico. Contudo, na moderna democracia de massas brasileira, j√° assentada sobre uma crescente economia capitalista, com a voca√ß√£o e as oportunidades para uma vigorosa expans√£o, inclusive fora de suas fronteiras nacionais, submergir a pol√≠tica na quest√£o social, como se verifica nos atuais debates sucess√≥rios, n√£o passa de um exerc√≠cio de mistifica√ß√£o.
Evidente que há uma política nos atuais círculos governantes, e que conta com palpáveis possibilidades de se reproduzir no próximo governo. Ela não surgiu pronta, mas, por ensaio e erro, chegou-se a ela em meio ao segundo mandato de Lula, que, embora seu alardeado pragmatismo, foi delineando o seu contorno, na prática, inteiramente descontínua quanto ao que foi o programa libertário do PT dos movimentos sociais e da auto-organização do social. Se o chamado "protagonismo dos fatos" campeou no primeiro mandato, já são visíveis as mãos que operam no campo decisivo da alavancagem da economia, da política científica e da projeção para o exterior do capitalismo brasileiro. Só está faltando dizer que, no século XXI, o Brasil deve investir no papel da política expansionista americana de começos do século XX.
Falta, ainda, talvez at√© por ardil, apresentar as raz√Ķes dessa pol√≠tica gr√£o-burguesa, em que se assuma a defesa da sempre perigosa, para os fins da democracia, fus√£o entre o Estado e os grandes grupos econ√īmicos como hoje se verifica √† vista de todos. A ideologia de Estado entre n√≥s, quando dominante, nunca se recusou a sua justifica√ß√£o, tal como fizeram o Visconde de Uruguai no 2¬ļ Reinado, Francisco Campos, Azevedo Amaral e Oliveira Vianna no Estado Novo, e Golbery do Couto e Silva e outros no regime militar. Ela ainda n√£o recuperou o vi√ßo de outrora, e, quem sabe, talvez nem vingue completamente, e, por ora, mal sabemos os nomes dos intelectuais que aceitam o risco de se apresentarem como seus campe√Ķes.
Evit√°-la √© n√£o lhe conceder terreno livre, evitando os atalhos que n√£o levam a lugar algum, como se perder em discuss√Ķes sobre mutir√Ķes de sa√ļde, e n√£o questionar a vincula√ß√£o atual dos movimentos sociais e do sindicalismo ao Estado, abdicar da pol√≠tica e se embrenhar nos caminhos perdidos da administra√ß√£o. Nas competi√ß√Ķes esportivas e eleitorais, perder faz parte do jogo, o que desonra √© perder sem luta, sem deixar para os que v√£o continu√°-la o exemplo da coragem e de uma posi√ß√£o firme quanto a princ√≠pios.
Plínio e os meninos do Santos (16 ago.)
N√£o se trata de mais uma entediante met√°fora futebol√≠stica, mas esse √ļltimo jogo da sele√ß√£o brasileira d√° no que pensar. Depois dos jogos da Copa do Mundo em que nosso time, apesar de se mostrar aguerrido, evolu√≠a pelos quatro cantos do campo sem a menor imagina√ß√£o, na expectativa de que a sorte viesse a lhe sorrir, quem sabe em uma bola parada ou em erro do advers√°rio, o que se assistiu na ter√ßa-feira, passado apenas um m√™s da nossa participa√ß√£o naquela infausta competi√ß√£o, foi como que uma confiss√£o p√ļblica de um equ√≠voco monumental. Apesar de enfrentar, em territ√≥rio do advers√°rio, uma sele√ß√£o americana formada h√° anos, de belo desempenho na √Āfrica do Sul, nossos jogadores flu√≠am no gramado leves e soltos, sem perder de vista o objetivo crucial do jogo, o gol, fazendo do oponente um mero espectador de suas evolu√ß√Ķes em campo.
Qual a mudan√ßa que transformou o comportamento do nosso time? A entrada de novos jogadores, antes descartados, certamente foi um fator, mas n√£o deve explicar tudo, porque, antes da interven√ß√£o de novos p√©s, parece ter sido decisiva a da cabe√ßa, com a ado√ß√£o de uma nova concep√ß√£o de jogo, que veio a valorizar as caracter√≠sticas de improviso e de inova√ß√£o tradicionais √† nossa cultura futebol√≠stica. A compara√ß√£o com o quadro melanc√≥lico da sucess√£o presidencial em curso parece se impor, com esse desfile mon√≥tono de candidatos, como se fossem ventr√≠loquos de marqueteiros, embora senhores (e senhoras) de fortes personalidades e cada qual com um hist√≥rico expressivo de realiza√ß√Ķes na vida p√ļblica.
A explica√ß√£o √© conhecida: dada a popularidade do governo Lula e a no√ß√£o de que haveria um sentimento de satisfa√ß√£o com o estado de coisas reinante, o mote dessa campanha deveria se centrar nos temas da continuidade e do aperfei√ßoamento de pol√≠ticas em andamento. Tal diagn√≥stico recomendaria, segundo especialistas em marketing eleitoral, uma atitude de conten√ß√£o por parte dos candidatos nas manifesta√ß√Ķes de suas convic√ß√Ķes, produzindo o resultado, at√© agora inquestion√°vel, de que se tornassem semelhantes entre si.
Ocorre, entretanto, que, nos debates organizados pela rede de TV Bandeirantes, o candidato que melhor atraiu a aten√ß√£o do p√ļblico comportou-se fora desse script, relembrando o seu desempenho, pela √™nfase e comunica√ß√£o expressiva de suas convic√ß√Ķes, memor√°veis momentos de um passado pol√≠tico nem t√£o remoto assim. √öltima imagem com futebol: Pl√≠nio atuou como um dos meninos do Santos que derrotaram a sele√ß√£o americana, como se estivesse entre os burocr√°ticos jogadores que disputaram a Copa.
Sem discuss√£o, contudo, o vi√©s anacr√īnico de certos posicionamentos do candidato do PSOL, mas esse sen√£o n√£o √© um bom motivo para ignorar que ele trouxe √† sucess√£o a quest√£o da igualdade como nenhum outro, sem os subterf√ļgios das pol√≠ticas de foco √† moda de um neoliberalismo enrustido t√£o em voga. O fundamento √ļltimo da Rep√ļblica n√£o √© outro sen√£o o da igualdade, pois o mundo dos desiguais √© o dos principados, cujo melhor destino poss√≠vel √© contar com condottieri virtuosos que se fa√ßam amar por suas obras e feitos pelo seu povo, que delas usufrui como o campon√™s dependente do regime do clima, olhando para o c√©u a esperar pelas chuvas. Mas a sorte mais comum dos principados √© a de estarem os muitos sujeitos √† discri√ß√£o de uns poucos, √†s vezes de um s√≥, em sistemas desp√≥ticos que a pol√≠tica moderna aprendeu a camuflar no interior de apar√™ncias apenas formalmente democr√°ticas.
Nesse sentido, est√° certo o candidato Pl√≠nio, diante do sil√™ncio dos demais, em levantar o tema da democratiza√ß√£o da terra, que, desde a nossa hora inaugural, nos condenou √† desigualdade com uma hist√≥ria de latif√ļndios que criou a "ral√© de quatro s√©culos" dos moradores de favor, base da cultura da depend√™ncia da multid√£o dos homens do campo, e que, com a queda do Imp√©rio, se traduziu no sistema do coronelismo que contaminou os in√≠cios da nossa vida republicana e ainda est√° por a√≠.
Trazer o tema da terra para o centro do debate pol√≠tico, nas condi√ß√Ķes de hoje da sociedade brasileira, importa, preliminarmente, reconhecer que n√£o h√° boa solu√ß√£o fora dos princ√≠pios e das institui√ß√Ķes da Carta democr√°tica de 1988, filha das lutas por liberdade dos brasileiros. Importa, ainda, reconhecer que se deve procurar uma via de compatibiliza√ß√£o entre o agroneg√≥cio, uma das vigas mestras da moderna economia brasileira, a defesa do meio ambiente e uma pol√≠tica agr√°ria de est√≠mulo e expans√£o da agricultura familiar, a qual deve ser objeto de uma pol√≠tica espec√≠fica de distribui√ß√£o de terras, tanto pelos seus efeitos ben√©ficos √† economia, como, talvez sobretudo, pela sua intr√≠nseca capacidade de democratizar a sociedade e a pol√≠tica.
N√£o h√° como fugir do diagn√≥stico: sem igualdade n√£o teremos a Rep√ļblica para a qual nos orientam os melhores impulsos da nossa hist√≥ria. Sem ela, o movimento que hoje, na esteira da expans√£o da fronteira do capitalismo brasileiro, nos empurra para o mundo exterior, liderado por empresas e neg√≥cios que florescem √† base da nossa abissal desigualdade social e de uma crescente centraliza√ß√£o e concentra√ß√£o de capitais, longe de nos aproximar do modelo de uma Rep√ļblica democr√°tica pode, ao contr√°rio, nos avizinhar da Rep√ļblica dos doges em Veneza, ou, para quem preferir uma compara√ß√£o mais moderna, da belicosa Rep√ļblica americana dos nossos dias.
Ventos do sudoeste (9 ago.)
Não se perde por esperar porque, lá longe, já sopra um vento sudoeste, e isso, como sempre se soube, é sinal de chuva grossa. A bonança dessa sucessão é de mau agouro, pois mantém a atenção descuidada do que vem por aí, uma vez que ela não corresponde a um estado de coisas realmente existente, e sim à crença, que ultimamente se alastrou entre nós, de que atingimos, nestes 16 anos de PSDB e de PT, o ponto ótimo, e final, da história do Brasil.
Confiante nela, a sociedade se entrega ao curso dos acontecimentos, embalada pelo canto de sereia dos √™xitos econ√īmicos, pela pujan√ßa do seu agroneg√≥cio, pela presen√ßa afirmativa no cen√°rio internacional e pela estabilidade pol√≠tica e financeira, certa de que, agora, navega no rumo certo. Nesse diapas√£o, a palavra de ordem n√£o poderia ser outra sen√£o a de continuar, e, uma vez que a pol√≠tica √© sempre o terreno da controv√©rsia e da explora√ß√£o de outros mundos poss√≠veis, n√£o haveria lugar para ela em meio a tantas certezas, devendo ceder lugar √† administra√ß√£o, arte da qual se espera aperfei√ßoar o que a√≠ est√°.
Contudo, √© do pr√≥prio processo dessa sucess√£o presidencial que v√™m os avisos de desvios de rota, mesmo que se possa desconfiar de que eles sejam meramente parte de uma estrat√©gia eleitoral de setores que, no interior do governo, patrocinam a candidatura situacionista. Pois √© deles que tem partido a sinaliza√ß√£o para uma forma de capitalismo de Estado orientada para objetivos gr√£o-burgueses de grandeza nacional, associando o empresariado, por meio do financiamento estatal, aos seus prop√≥sitos. Trata-se da situa√ß√£o cl√°ssica de "exasperar, por meio de recursos pol√≠ticos, a conquista de fins econ√īmicos", tendente, tamb√©m classicamente, a realizar uma fus√£o entre essas duas dimens√Ķes.
No caso desse empreendimento vingar, decerto que se introduzem importantes elementos de muta√ß√£o na experi√™ncia de social-democracia no pa√≠s, em uma deriva potencialmente autorit√°ria, na medida em que a sociedade passar√° a ser objeto passivo de uma tecnocracia de estilo messi√Ęnico que traz para si a representa√ß√£o do projeto de na√ß√£o. Tal processo pode ser ainda mais insidioso se persistem as tend√™ncias atuais de estataliza√ß√£o dos sindicatos - do que a recente legisla√ß√£o sobre as centrais sindicais √© um sintoma -, dos movimentos sociais e da pol√≠tica assistencialista, cuja inspira√ß√£o, n√£o custa nada lembrar, √© de cepa neoliberal.
Contudo, esse eixo, melhor identificado em grandes personagens da cena atual, como Samuel Pinheiro Guimarães, Nelson Jobim e Mangabeira Unger, não reina solitário. Em outra ponta, o eixo Antonio Palocci-Henrique Meirelles representa tendência oposta, contínua, em seus fundamentos, ao ciclo de dezesseis anos de governos do PSDB e do PT, mais pragmática e refratária a uma estreita vinculação entre política e economia.
A competi√ß√£o entre esses eixos ainda n√£o √© aberta, ambos empenhados na candidatura situacionista, que, na eventualidade de uma vit√≥ria, dever√° fazer sua op√ß√£o. Um deles sair√° perdedor, restando sempre a possibilidade de um compromisso entre eles, tal como vem ocorrendo nesses √ļltimos anos do governo Lula. Esse compromisso se apresenta, desde j√°, como dif√≠cil, n√£o s√≥ porque o p√™ndulo, nos √ļltimos tempos, se deslocou em sentido favor√°vel a uma forma qualquer de capitalismo de Estado, pela biografia da candidata Dilma - em toda a sua carreira, uma personagem da administra√ß√£o p√ļblica - e, sobretudo, pela falta de Lula, que fez da composi√ß√£o de contr√°rios a sua marca como homem de Estado e, nessa arte, ao que parece, n√£o formou disc√≠pulos √† altura.
A disputa entre eles, em um eventual governo Dilma, n√£o deve ficar retida nos quadros palacianos, cada qual procurando escoras em organiza√ß√Ķes e movimentos da sociedade civil, abrindo um debate p√ļblico em torno de quest√Ķes program√°ticas, que, pela sua pr√≥pria natureza, estimulam a mobiliza√ß√£o social.
Ainda na hipótese de uma vitória de Dilma, outro componente novo será a da posição do PMDB, que contará com a vice-presidência, governadores de Estados, ministérios e uma expressiva bancada congressual, que, diante de uma divisão por motivos programáticos no interior do PT e do governo, pode vir a se comportar com orientação própria, ora vetando políticas, ora impondo outras, e já visando a sucessão de 2014, no interior da coalizão governamental. O dissenso em cima deve afrouxar a capacidade de hoje do Estado de controlar os movimentos sociais, que assim poderão interromper o quietismo em que estão imersos.
Em outra perspectiva, se vencer o candidato Serra, √© de se aguardar uma forte oposi√ß√£o por parte de movimentos sociais, especialmente daqueles que foram trazidos pelo atual governo para o interior e proximidades do aparato estatal, e que devem perder essas posi√ß√Ķes. A sombra de Lula, no ostracismo de S√£o Bernardo, pode vir a assombrar o seu governo, como a de Get√ļlio, em S√£o Borja, assombrou o de Dutra. O capitalismo de Estado no seu governo n√£o ser√° certamente uma alternativa de pol√≠tica, mas sua linhagem de forma√ß√£o intelectual de estilo keynesiano promete uma forte presen√ßa estatal na condu√ß√£o da economia, at√© preservando quadros da atual administra√ß√£o.
Assim, por fas ou por nefas, √© a pol√≠tica que deve voltar, encerrando esse longo per√≠odo melanc√≥lico em que s√≥ se falou da administra√ß√£o das coisas. Mais uma vez, constata-se o papel das sucess√Ķes presidenciais na libera√ß√£o de energias novas, o que ocorreu mesmo no regime militar, que, ali√°s, acabou em uma delas.
O problema do inimigo e a quest√£o nacional (2 ago.)
Um observador estrangeiro que queira interpretar o atual estado de coisas da pol√≠tica brasileira deve estar advertido de que este pa√≠s tem horror √† linha reta, uma vez que o tra√ßo da prefer√™ncia nacional √© o zigue-zague. Fazem-se, por exemplo, hist√≥rias pol√≠ticas de √™xito em nome da necessidade de uma ruptura com a era Vargas para, mais √† frente, reabilit√°-la, sem que se suspenda o ju√≠zo cr√≠tico que a condenou como experi√™ncia mals√£ e sem que se justifiquem os motivos da sua reabilita√ß√£o. Met√°foras m√©dicas como s√≠stoles e di√°stoles s√£o empregadas, com sucesso de p√ļblico, para explicar as vicissitudes do federalismo brasileiro, como se, para n√≥s, o eterno retorno fosse um dado da natureza do nosso metabolismo pol√≠tico.
Ainda agora, no curso desse ciclo de dezesseis anos de governos de social-democracia √† brasileira, com seus temas reprisados √† exaust√£o, como esse tal de presidencialismo de coaliz√£o que nos assola desde FHC, sinais que poderiam indicar uma circunst√Ęncia afortunada para inven√ß√£o e descoberta de novos caminhos nos levam mais uma vez ao passado, em busca de velhas ferramentas. Assim, nesta sucess√£o presidencial, os magos da prestidigita√ß√£o eleitoral afetam sacar da cartola a t√≥pica do nacional-popular, evocando um tempo de crispa√ß√Ķes e de duros antagonismos da sociedade dos anos 1950/60, embora vivamos sob um c√©u de brigadeiro, nessa ordem burguesa domesticada, que se aprofunda sem cessar.
A t√≥pica do nacional-popular, como se sabe, resultou de uma inova√ß√£o conceitual e pol√≠tica concebida especialmente pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), em meados do s√©culo passado, ap√≥s longo processo de discuss√£o. Seus termos foram consagrados na famosa "Declara√ß√£o de Mar√ßo" de 1958, com que os comunistas abandonaram a ortodoxia das lutas de "classe contra classe", passando a adotar uma pol√≠tica de alian√ßas amplas em torno do nacionalismo a fim de emancipar o pa√≠s da domina√ß√£o imperialista, especialmente americana, e de remover os entraves estruturais que estariam impedindo o livre desenvolvimento das for√ßas produtivas nacionais, entre as quais as rela√ß√Ķes semifeudais no mundo agr√°rio. Tal alian√ßa deveria assumir uma configura√ß√£o pluriclassista heterog√™nea, envolvendo o proletariado, seu componente mais consequente, os camponeses, a pequena burguesia urbana, a burguesia e at√© os setores latifundi√°rios que possu√≠ssem contradi√ß√Ķes com o imperialismo norte-americano.
Com essas caracter√≠sticas, suportada em elementos de extra√ß√£o social t√£o diversa, essa alian√ßa nascia dependente de a√ß√Ķes pol√≠ticas bem calculadas, que, sem perder de vista os interesses contradit√≥rios dos atores envolvidos, fosse capaz de manter a unidade em prol do objetivo comum. Segundo o texto da "Declara√ß√£o", a burguesia seria uma for√ßa revolucion√°ria inconsequente, temerosa de uma a√ß√£o independente das massas, vacilante e tendente a compromissos com os setores entreguistas. O proletariado deveria se postar, a um tempo, como o agente mais ativo das lutas dessa complexa frente e como a sua consci√™ncia cr√≠tica, salvaguardando a sua independ√™ncia ideol√≥gica, pol√≠tica e organizativa sem, no entanto, comprometer o objetivo principal da alian√ßa nacionalista.
Em suma, a ele cabia disputar a hegemonia no interior dessa coalizão pluriclassista, sem se deixar subsumir às forças aliadas - mas sem antagonizá-las radicalmente -, daí que, nessa concepção, a melhor designação desse movimento seria a de nacional-popular.
O cenário em que veio à luz a "Declaração de Março" de 1958 é o da política desenvolvimentista de JK, apenas alguns anos após o trágico desfecho do segundo governo Vargas. Sob JK, o executivo chama para si o planejamento do processo de indução da industrialização, que passa a ser favorecido por financiamento do Estado e a contar com sua proteção fiscal. Para a esquerda e os setores nacionalistas, inclusive das Forças Armadas e da alta burocracia estatal, estaria aberta uma senda nova, a ser mantida e ampliada, e que significava, afinal, a descoberta da natureza singular da revolução brasileira como nacional, democrática e popular.
Levar essa revolu√ß√£o √† frente importava uma crescente mobiliza√ß√£o de massas, das cidades e do campo, nesse √ļltimo caso em torno de uma reforma agr√°ria em favor do campesinato e de lutas que viessem a garantir os direitos trabalhistas no mundo agr√°rio. Nesse sentido, a radicaliza√ß√£o dos movimentos por direitos dos setores subalternos deveria se traduzir em press√Ķes de baixo para cima em favor da abertura do Estado √†s suas reivindica√ß√Ķes e em mudan√ßas internas em sua composi√ß√£o, que, por sua vez, deveriam repercutir em favor de medidas mais en√©rgicas contra os interesses e grupos identificados como inimigos da na√ß√£o.
Not√≥rio que, em 1964, fechou-se esse cap√≠tulo do nacional-popular. O regime militar, em particular no governo Geisel, reinterpretou-o de forma bastarda, cancelando o popular e concedendo ao nacional o sentido gr√£o-burgu√™s de objetivos de grandeza nacional. Agora, quanto mais se aproxima o fim do segundo governo Lula e mais vizinhos estamos do processo eleitoral, imprevistamente, ressurge, vindo de vozes do interior do pr√≥prio Estado, a quest√£o nacional, nua de qualquer outra qualifica√ß√£o e absolutamente inocente quanto a pretens√Ķes de mobiliza√ß√£o popular, inclusive no mundo agr√°rio, que, ali√°s, vai muito bem com o agroneg√≥cio. Disc√≠pulos de um fil√≥sofo pol√≠tico em moda poderiam perguntar: nessa vers√£o corrente da quest√£o nacional, qual √© mesmo o inimigo? A imagem √© gasta, talvez devesse ser evitada, mas se tornou inevit√°vel, porque o enredo tr√°gico do nacional-popular - com o suic√≠dio de um presidente, a ren√ļncia de outro e um golpe militar - est√° amea√ßando retornar como farsa.
Revolu√ß√£o passiva e Rep√ļblica (26 jul.)
Revolu√ß√Ķes passivas s√£o processos de revolu√ß√£o sem revolu√ß√£o em que as elites pol√≠ticas das classes dominantes se apropriam total ou parcialmente da agenda dos setores subalternos, cooptando suas lideran√ßas, afastando outras, em uma estrat√©gia de conservar-mudando, tal como nas palavras de um personagem do romance O leopardo, a obra-prima do italiano Giuseppe Lampedusa, que sentenciava ser necess√°rio mudar para que as coisas permanecessem como estavam. Deve-se a Antonio Gramsci a mais refinada elabora√ß√£o do conceito desse processo particular de mudan√ßa social, em especial em dois textos coligidos em Cadernos do c√°rcere, o dedicado ao estudo do Risorgimento, tendo como tema a unifica√ß√£o do Estado italiano, e o que tem como objeto a an√°lise de dois fen√īmenos cruciais no per√≠odo de entreguerras, o americanismo e o fordismo.
A partir dos anos 1970, em uma iniciativa de √änio Silveira, √† testa da Editora Civiliza√ß√£o Brasileira, iniciam-se as primeiras publica√ß√Ķes da obra de Gramsci, que logo ingressa no pante√£o dos cl√°ssicos selecionados pela bibliografia brasileira em ci√™ncias sociais, muito particularmente em raz√£o da sua teoria p√īr sob nova luz a natureza da moderniza√ß√£o autorit√°ria, ent√£o em curso sob regime militar. Fiz parte desse movimento intelectual, atra√≠do, como tantos da minha gera√ß√£o, pela capacidade de explica√ß√£o dos conceitos e categorias desse autor, que favoreciam perspectivas originais para o estudo da nossa realidade, e, sob essa inspira√ß√£o, o tema da revolu√ß√£o passiva dominou o argumento que desenvolvi em Liberalismo e sindicato no Brasil, publicado em 1976.
Em A revolu√ß√£o passiva, iberismo e americanismo no Brasil, de 1997, dei continuidade a esses estudos, um dos ensaios coligidos nesse livro tendo por t√≠tulo "Caminhos e descaminhos da revolu√ß√£o passiva √† brasileira". Sempre na convic√ß√£o de que a revolu√ß√£o passiva se manifestava como um processo de longa dura√ß√£o entre n√≥s, analisei, em 1996, sob a mesma chave os primeiros anos do governo Fernando Henrique - um presidente que citava Gramsci em seus pronunciamentos p√ļblicos -, quando sustentei que o Gramsci presidencial seria o da revolu√ß√£o passiva como um programa de pol√≠tica e n√£o como um crit√©rio de interpreta√ß√£o, vale dizer, introduzindo mudan√ßas sociais sem afetar a reprodu√ß√£o da hegemonia dos grandes interesses dominantes.
A chegada da esquerda ao governo pela via eleitoral, com a vit√≥ria de Lula, em 2002, prometia que esse longo ciclo se interromperia, favorecendo a mobiliza√ß√£o popular e a emerg√™ncia dos setores subalternos na cena p√ļblica como sujeitos aut√īnomos e dotados da capacidade de apresentar, a partir de sua vida associativa, uma agenda de transforma√ß√Ķes sociais. Com o governo Lula, escrevi em 2007, invertem-se os termos da revolu√ß√£o passiva cl√°ssica: ser√° a esquerda quem vai acionar os freios a fim de deter as for√ßas da mudan√ßa, mas ser√° ela tamb√©m quem vai submeter politicamente as elites dominantes, cooptando os seus quadros e confiando a elas postos estrat√©gicos na condu√ß√£o da m√°quina governamental em mat√©ria econ√īmico-financeira (O estado novo do PT).
Nessa bizarra constru√ß√£o, o governo, oriundo da esquerda, se abre para uma coaliz√£o de contr√°rios, mas preserva o seu comando na iniciativa de pol√≠ticas sociais, encaminhando, para usar o l√©xico gramsciano, transforma√ß√Ķes moleculares que tenderiam a ativar o polo da mudan√ßa. Tais transforma√ß√Ķes, contudo, derivam, em geral, mais de a√ß√Ķes induzidas pelo pr√≥prio governo do que da mobiliza√ß√£o dos setores subalternos, que se tornam objetos passivos das pol√≠ticas p√ļblicas, do que √© exemplar o programa Bolsa Fam√≠lia, em meio a uma crescente estataliza√ß√£o dos movimentos sociais, que j√° atinge o sindicalismo.
Resistente a tantas mudan√ßas em nossa hist√≥ria moderna, o processo da revolu√ß√£o passiva, de Vargas a Lula, persiste como se fosse um atributo do car√°ter nacional, com o Estado feito √°rbitro do que seria a √≥tima (e dif√≠cil) pondera√ß√£o dos dois termos da f√≥rmula do conservar-mudando. E continuar√° se reproduzindo enquanto os seus pilares n√£o forem afetados: o da preval√™ncia do Estado sobre a sociedade civil, invadida e regulada por suas ag√™ncias, senhor de uma vontade soberana que a tudo arrosta, inclusive as pr√≥prias institui√ß√Ķes da representa√ß√£o pol√≠tica, e o da heteronomia presente na vida popular, de prec√°ria inscri√ß√£o em um estatuto real de cidadania.
Nesse sentido, a atual emergência da tópica republicana entre nós, embora débil, consiste em um elemento que não pode ser mais negligenciado, pois o golpe de morte na revolução passiva à brasileira deve provir dela, e não de atalhos voluntaristas. Decerto que ainda são apenas movimentos dispersos, descoordenados entre si, com baixa capilaridade, mas que podem ser potenciados a partir de uma reflexão que os justifique e proponha a sua ampliação.
No entanto, alguns êxitos recentes, como a iniciativa popular que culminou na lei da Ficha Limpa, já secundada pela que agora visa o tema decisivo da reforma política, são sinais de que a questão republicana vem ganhando vida e está animando agências relevantes da sociedade civil, muitas delas as mesmas que fizeram parte da resistência democrática nos tempos do regime militar.
A justi√ßa eleitoral e o minist√©rio p√ļblico - agente ativo na defesa da rep√ļblica por defini√ß√£o constitucional - t√™m desempenhado um papel fundamental nesse processo de livrar os procedimentos democr√°ticos dos atuais obst√°culos que falseiam a manifesta√ß√£o da soberania popular, porque somente ela pode imprimir o impulso que, ativando a esfera p√ļblica, interrompa essa longa hist√≥ria em que a sociedade √© reduzida a ser uma espectadora passiva dos acontecimentos, conduzida "por cima" pelos que decidem, para o bem ou para o mal, o seu destino.
Um bismarquismo tardio (19 jul.)
H√° jornais que mant√©m a tradi√ß√£o de informar diariamente aos seus leitores o que, a crit√©rio de um editor especializado, teriam sido as not√≠cias mais relevantes h√° 50 anos. Em um deles, na edi√ß√£o do dia 16 de julho, quando essa coluna est√° sendo escrita, a mat√©ria dedicada a esse tema informou que o ent√£o senador John Kennedy tinha acabado de aceitar sua candidatura √† Presid√™ncia do seu pa√≠s. Nessa ocasi√£o, Kennedy pronunciou a declara√ß√£o, tornada c√©lebre, apelando para que seu povo viesse a se orgulhar do que ele iria lhe pedir e n√£o a lhe oferecer, afirmando que seus ideais de governo "falar√£o mais alto ao orgulho nacional do que ao bolso". Cada tempo com seus costumes, estamos, nos anos 1960, distantes anos-luz do marqueteiro de Bill Clinton, que explicava sarcasticamente o sucesso da sua campanha com a express√£o "√© a economia, est√ļpido!", com a qual aludia claramente ao bolso dos seus cidad√£os.
Nos Estados Unidos, como aqui, era √©poca de sucess√£o presidencial, e o mesmo jornal informava que o ministro da Guerra de Juscelino Kubitschek, o marechal Odilio Denys, afirmara que o "Ex√©rcito, sem ficar indiferente aos assuntos importantes da vida do pa√≠s, n√£o pretende abandonar a sua posi√ß√£o de neutralidade em face da sucess√£o presidencial e absolutamente alheio √† pol√≠tica". Aparentemente prosaica, a fala do ministro significava o oposto do seu enunciado, uma vez que, na verdade, era uma declara√ß√£o de forte teor pol√≠tico, em uma circunst√Ęncia em que um dos candidatos √† Presid√™ncia era outro militar, o marechal Lott, candidatura que o ministro n√£o endossaria. Indicava tamb√©m que o poder moderador da Rep√ļblica brasileira, como o Ex√©rcito veio a ser chamado pela moderna historiografia, acompanhava com aten√ß√£o o desenrolar dos acontecimentos. Constata-se, assim, que estamos, em 2010, com a aus√™ncia de manifesta√ß√Ķes p√ļblicas de dirigentes das For√ßas Armadas sobre o processo de sucess√£o em curso, distantes anos-luz dos anos 1950/60.
Edi√ß√Ķes anteriores desse tipo de mat√©ria jornal√≠stica deixam patente que o elemento agon√≠stico, t√£o forte na pol√≠tica em meados do s√©culo passado, est√° inteiramente ausente na atual competi√ß√£o eleitoral. Personagens e programas que naquelas d√©cadas polarizavam a sociedade, amea√ßando-a de divis√£o - que, ali√°s, vir√°, poucos anos depois - em golpes, contragolpes e sinais de revolu√ß√£o, se encontram, hoje, fora de cena, inclusive a corpora√ß√£o militar. E a outrora dram√°tica quest√£o agr√°ria, em torno da qual se tentou gestar uma alian√ßa oper√°rio-camponesa, agora se acha convertida em objeto de uma simples controv√©rsia parlamentar, envolvendo apenas - a sociedade mera espectadora - os setores diretamente interessados, tais como as representa√ß√Ķes do agroneg√≥cio, da agricultura familiar e das ONGs ambientalistas, ali√°s, tr√™s segmentos presentes na composi√ß√£o do governo.
N√£o pode haver lugar para a polariza√ß√£o quando os tr√™s principais candidatos se apresentam como portadores de um mesmo projeto, qual seja, o de garantir continuidade ao longo ciclo que, iniciado com o governo FHC, encontrou prolongamento no governo Lula. Esse ciclo √© o do aprofundamento do capitalismo e da consolida√ß√£o da ordem burguesa no pa√≠s sob a √©gide das institui√ß√Ķes da democracia pol√≠tica, rompendo com a nossa hist√≥ria de moderniza√ß√£o sob regimes autorit√°rios.
Em raz√£o dessa nova qualidade, tal processo se encontra aberto √†s demandas por direitos e reivindica√ß√Ķes substantivas da sociedade e da sua vida associativa, e tem assumido, sobretudo no governo Lula, fortes compromissos com pol√≠ticas p√ļblicas orientadas para a democratiza√ß√£o social. Na verdade, o que os tr√™s candidatos estariam disputando √© qual deles, na avalia√ß√£o do eleitor, teria as melhores credenciais para levar √† frente esse ciclo, confiando a seus marqueteiros a tarefa de singularizar o personagem que devem encarnar.
Essa perspectiva, contudo, √© a do espelho retrovisor. Qual o projeto de futuro para a nossa sociedade, quais formas de rela√ß√£o devem presidir seus v√≠nculos com o seu Estado, como perseguir os fins de realiza√ß√£o de uma rep√ļblica democr√°tica, fechando caminho √† reprodu√ß√£o de um cidad√£o-cliente que se dissemina entre n√≥s? Ser√° um destino desej√°vel para o pa√≠s nos convertermos de presas em predadores, para usar as palavras do tema-t√≠tulo do excelente artigo de Rodrigo Marcilio, advogado especialista em mercado de capitais, publicado em Valor de 12/07/2010?
Segundo o artigo, "as multinacionais brasileiras t√™m encontrado um ambiente bastante prop√≠cio para seus recentes movimentos de expans√£o al√©m das fronteiras nacionais", nos √ļltimos anos, realizando importantes aquisi√ß√Ķes de companhias estrangeiras, invertendo a l√≥gica em que elas √© que eram compradas. A Vale, a Camargo Corr√™a, a Votorantim, entre outras, comporiam o elenco dessas multinacionais brasileiras, financiadas por incentivos estatais, BNDES √† frente, pol√≠tica que se refor√ßa com a cria√ß√£o recente de uma subsidi√°ria desse banco em Londres, voltada para o financiamento realizado diretamente no exterior.
Nesse sentido, avizinhamo-nos, ainda sem ideologia, de um bismarquismo tardio, para o qual contamos, sem d√ļvida, com a nossa pesada tradi√ß√£o de moderniza√ß√£o autorit√°ria que nos vem das eras de Vargas e a do regime militar. Essa fus√£o entre economia e pol√≠tica em nome de objetivos gr√£o-burgueses, com o sindicalismo crescentemente vinculado ao Estado, n√£o √© nada promissora para a democracia brasileira. A agenda dos candidatos √† sucess√£o presidencial comprometidos com ela est√° equivocada: n√£o se trata apenas de disputar, com os maneirismos do marketing pol√≠tico, o modo de continuar um ciclo feliz, mas de impedir o nascimento de um que ameace as conquistas democr√°ticas j√° realizadas e a serem aperfei√ßoadas.
Futebol, crime e política (12 jul.)
O assassinato de Eliza Samudio em que est√° envolvido como suspeito o goleiro Bruno, ex-capit√£o do Flamengo, vencedor do √ļltimo campeonato brasileiro de futebol, n√£o deve ficar confinado √†s p√°ginas do notici√°rio policial. O horror que ele suscita por seu enredo escabroso, a hist√≥ria dos personagens, a gratuidade do crime, a forma da execu√ß√£o - os restos mortais da v√≠tima foram lan√ßados a c√£es para serem devorados -, a presen√ßa do mal em estado bruto, tudo isso reclama que se olhe para al√©m das patologias dos indiv√≠duos j√° indiciados como culpados. Em primeiro lugar para o clube, agremia√ß√£o mais que centen√°ria, e para a estrutura do futebol, o esporte de massas que √© uma paix√£o nacional. Em segundo, para o tipo de sociabilidade selvagem, √† margem da vida civil, que se reproduz em escala crescente e que encontra na cultura do narcotr√°fico e do consumismo, al√ßado a valor supremo, os seus paradigmas.
Bruno, um dos mais altos sal√°rios do seu clube, era uma lideran√ßa, portando a bra√ßadeira de capit√£o por indica√ß√£o de seus dirigentes, em que pesem v√°rias manifesta√ß√Ķes arrogantes de sua parte, inclusive nas rela√ß√Ķes com o seu t√©cnico, e j√° se envolvera, com alguns colegas, em esc√Ęndalos p√ļblicos em festas promovidas em dom√≠nios territoriais do narcotr√°fico. Em uma dessas ocasi√Ķes, proferiu uma declara√ß√£o em que, explicitamente, admitiu ser normal a viol√™ncia f√≠sica entre casais, e, embora sua agremia√ß√£o desportiva fosse dirigida por uma mulher - uma ex-atleta ol√≠mpica -, manteve a honraria da bra√ßadeira.
Registre-se, ainda, que dois companheiros de clube, como o notici√°rio esportivo com frequ√™ncia denunciava, eram contumazes participantes de pagodes em redutos do crime organizado, um deles fotografado ao lado de marginais armados com metralhadoras, o outro levado √† pol√≠cia para esclarecer rela√ß√Ķes mercantis com not√≥rias lideran√ßas do mundo do tr√°fico em favelas cariocas.
Em todos os casos, o clube optou pela contemporiza√ß√£o, em nome certamente de uma pol√≠tica de resultados, uma vez que esses jogadores se notabilizavam por seus feitos nas competi√ß√Ķes. E o que importa a√≠ √© deslocar o foco para a estrutura do nosso futebol, com sua organiza√ß√£o autocr√°tica, dominada por um v√©rtice que se eterniza no poder, apenas orientada para a produ√ß√£o de vit√≥rias nas competi√ß√Ķes, inteiramente arredia √†s possibilidades de fazer do futebol, com sua penetra√ß√£o capilar na vida do povo, um instrumento de educa√ß√£o de massas.
Para ela, o futebol do pa√≠s se resume a ser mais um ator no processo de globaliza√ß√£o dessa atividade esportiva gra√ßas √† qualidade dos seus praticantes, um celeiro de craques de exporta√ß√£o. Nesse sentido, a express√£o esportiva e cultural que ele representa se encontra crescentemente contaminada pela amea√ßa de ser submetida inteiramente √† l√≥gica mercantil. E n√£o √† toa n√£o se pode mais descrever a sua hist√≥ria atual sem incluir o papel dos empres√°rios no recrutamento de jovens jogadores talentosos, empres√°rios¬†que passam a administrar suas carreiras, relegando o papel das agremia√ß√Ķes esportivas a um lugar subordinado, quando n√£o inteiramente ausente, na sua forma√ß√£o como homens e cidad√£os.
Os frutos bem-sucedidos desse sistema se convertem em mercadorias do mercado globalizado do futebol, as transfer√™ncias para os milion√°rios clubes europeus, para onde migram cada vez mais jovens, significando a realiza√ß√£o de suas carreiras. Nada mais natural que seus praticantes, desde cedo sem tempo para se dedicarem aos estudos, encapsulados na bolha do mundo do futebol, manifestem fortes op√ß√Ķes religiosas, em geral pentecostais, a√≠ encontrando escoras emocionais que lhes permitam suportar as press√Ķes do mercado que condiciona suas vidas.
Sem essas escoras, seus profissionais, com uma educação formal em geral precária, muitos vindos de lares destroçados - o caso de Bruno -, se veem à mercê da cultura do consumismo, o tempo livre de jogos e treinamentos dissipados em meio a uma legião de fãs, sua presença prestigiosa disputada em pagodes e orgias em que são convidados de honra. Os clubes, indiferentes ao comportamento dos seus profissionais, cerram os olhos a seus desvios de conduta, por sua vez prisioneiros da lógica de resultados que comanda o futebol. Assim, os clubes e seus heróis do maior esporte de massas do país, que poderiam exercer um papel na difusão dos valores civis na formação da juventude, tornam-se uma vitrine a estimular o hedonismo e o comportamento narcísico.
Futebol √© cultura - no nosso caso uma de suas mais vigorosas manifesta√ß√Ķes -, fazendo as vezes de uma escola moderna em que se ensina a competir sob a jurisdi√ß√£o de regras interpretadas por um √°rbitro e que s√£o de pr√©vio conhecimento dos seus praticantes e do seu p√ļblico. Atividade generalizada na juventude do nosso pa√≠s, presente no mais remoto dos rinc√Ķes, a pol√≠tica e os partidos n√£o podem ser estranhos a ela, esperando-se da sua interven√ß√£o a cria√ß√£o de regras que venham a atuar no processo de forma√ß√£o dos seus profissionais, que chegam a ela, em muitos casos, como pr√©-adolescentes. De outra parte, cabe √† opini√£o p√ļblica reclamar que os clubes adotem padr√Ķes de conduta que impe√ßam os seus atletas de manterem rela√ß√Ķes privilegiadas com o submundo da criminalidade.
Entre tantos fatos estarrecedores no caso de Bruno, est√° a revela√ß√£o de que ele estava conscientemente envolvido com personagens e com os padr√Ķes vigentes nas redes do crime organizado. S√≥ faltou o uso de micro-ondas na elimina√ß√£o da pobre Eliza para tornar ainda mais evidentes as impress√Ķes digitais da cultura do narcotr√°fico nesse caso.
Uma maneira de escolher um candidato (5 jul.)
N√£o √© um bom ponto de partida, para quem procura um candidato √† pr√≥xima sucess√£o entre os nomes at√© ent√£o apresentados, limitar sua escolha √† avalia√ß√£o do perfil de cada qual, suas realiza√ß√Ķes e biografias. A oferta de bons nomes embara√ßa a escolha do incauto que procurar seguir essa prosaica regra, cab√≠vel na avalia√ß√£o de curr√≠culos para admiss√£o em empresas ou em programas de p√≥s-gradua√ß√£o universit√°rios. Pois, fora de d√ļvida que Serra, Dilma, Marina e Pl√≠nio Sampaio s√£o cidad√£os virtuosos e t√™m atr√°s de si uma hist√≥ria de realiza√ß√Ķes na vida p√ļblica.
Nessa procura, certamente aparenta ser mais √ļtil deslocar o foco para os partidos e seus programas. Mas, a√≠, as coisas tamb√©m podem se tornar confusas, porque ser√° necess√°rio distinguir os seus enunciados program√°ticos das suas pr√°ticas, na medida em que um partido, em abstrato, pode se declarar orientado para os fins do socialismo, enquanto que, do ponto de vista da sua a√ß√£o, se comporta no sentido de ampliar e aprofundar a ordem burguesa.
Assim, uma declaração de princípios por parte de um partido em favor de determinados valores não necessariamente revela a sua real identidade, que não se pode conhecer sem observar a sua forma de agir no mundo. Se um partido, por exemplo, afirma que a democracia se tornou um valor universal, ela não pode ser contingenciada por uma perspectiva substantiva, em que se persigam fins democráticos por meios que não o sejam, salvo, é claro em regimes de tirania. Se ele a contingencia, não deve ser uma boa opção para quem adere a esse valor.
Em tempos de sucess√£o, em um sistema de governo fortemente presidencialista como o nosso, quando se vai atribuir a um governante, bem mais do que a gest√£o da m√°quina da administra√ß√£o p√ļblica, um poder efetivo de decis√£o sobre os rumos do futuro, o que importa √© definir, a partir das balizas e refer√™ncias que nos s√£o constitutivas, para onde queremos ir. Uma dessas refer√™ncias obrigat√≥rias est√° no reconhecimento de que a moderna sociedade brasileira tem seu assentamento em uma revolu√ß√£o democr√°tica, gestada na resist√™ncia ao regime ditatorial, que envolveu em seu processo a representa√ß√£o do que havia de mais significativo na sociedade civil em um movimento in√©dito na vida republicana, inclusive pela magnitude de sua escala, e que recebeu consagra√ß√£o institucional com a Carta de 1988.
O fato dessa revolu√ß√£o democr√°tica ter desconhecido rupturas ag√īnicas, afirmando-se pelo caminho de uma transi√ß√£o pol√≠tica, n√£o lhe retira o significado de mudan√ßa de √©poca que ela introduz na hist√≥ria brasileira, com a valoriza√ß√£o da sociedade e de suas institui√ß√Ķes diante do Estado, com a cria√ß√£o de um Minist√©rio P√ļblico como figura republicana destinada a agir em nome da sociedade e n√£o mais como instrumento da vontade estatal, e de um complexo sistema de prote√ß√£o para os direitos individuais e coletivos. A carta pol√≠tica em que essa revolu√ß√£o declarou seus valores e institui√ß√Ķes j√° se entranha na nossa nova cultura pol√≠tica e come√ßa a fazer parte do imagin√°rio da vida popular, que nunca antes demandou por seus direitos como agora, exemplar, entre tantas, nas causas que envolvem as comunidades quilombolas.
A condu√ß√£o √† Presid√™ncia, primeiro de um intelectual sa√≠do da esquerda da vida universit√°ria, sucedido por um sindicalista de origem oper√°ria, e, agora, esse naipe de candidatos √† sucess√£o de 2010, todos formados nas lutas democr√°ticas e populares, atesta que o impulso origin√°rio, que nos vem das lutas da resist√™ncia e do movimento da opini√£o p√ļblica de ent√£o, segue animando a vida p√ļblica. A tradu√ß√£o em termos pol√≠ticos do Estado Democr√°tico de Direito, figura conceitual que resume a obra coletiva da gera√ß√£o da resist√™ncia, n√£o pode ser outra que democracia como valor universal.
Continuar e aprofundar tal inspira√ß√£o dos fundadores da moderna rep√ļblica brasileira implica torn√°-la presente na agenda das quest√Ķes relevantes com que a sociedade hoje se defronta, quer sejam as que envolvem o modo de inscri√ß√£o do pa√≠s no cen√°rio internacional, quer as que tratam da quest√£o social, do meio ambiente, ou mesmo das pr√≥prias pol√≠ticas sist√™micas que definem os rumos da economia, que n√£o podem ser aut√īnomas, na determina√ß√£o de suas linhas gerais, das prefer√™ncias expressas pelos cidad√£os. Para tanto, exigem-se respostas novas, e que tenham como ponto de partida o envolvimento da sociedade e de sua vida associativa, tal como no processo recente que levou¬†√† cria√ß√£o da lei da Ficha Limpa.
De muitas dire√ß√Ķes, algumas surpreendentes, somam-se as iniciativas que testam, com sucesso, essa nova forma de fazer pol√≠tica, melhor ilustrada pelo caso da tramita√ß√£o no Parlamento da reforma do C√≥digo Florestal, sob a relatoria do deputado Aldo Rebelo. Quest√£o cr√≠tica, tratando de interesses supostamente inconcili√°veis entre o agroneg√≥cio, os ambientalistas e a agricultura familiar, o empenho do relator em encontrar uma solu√ß√£o consensual, pela via do di√°logo democr√°tico, com a audi√™ncia de todos os envolvidos, parece se achar pr√≥ximo de um final feliz.
No entanto, qualquer que seja o resultado, a tentativa de repensar a questão agrária brasileira, pela via habermasiana que orientou o relator, já produziu um novo diagnóstico: na contramão de idiossincrasias e preconceitos consolidados, estamos aprendendo que, nessa velha questão dramática da sociedade brasileira, se encontra, para além dos cálculos produtivistas e dos impasses do passado, um dos temas chave para uma política de soberania nacional e uma das passagens para a nossa transição ao moderno.
A viagem de volta da América à Ibéria (28 jun.)
O Brasil faz parte da Ibero-Am√©rica, e rios de tinta t√™m sido gastos para procurar desvendar o papel dessa conting√™ncia de origem na forma√ß√£o da sua sociedade, animando uma controv√©rsia sempre renovada ao longo do tempo. Essa origem seria uma heran√ßa desafortunada com a qual ter√≠amos que romper a fim de come√ßar uma nova hist√≥ria mais justa e igualit√°ria, segundo alguns, ou, contrariamente, um legado valioso a partir do qual ter√≠amos assentado os fundamentos cruciais para o empreendimento de uma bem-sucedida constru√ß√£o do nosso Estado-na√ß√£o. Entre esses fundamentos o que nos garantiu a unidade territorial, evitando-se a balcaniza√ß√£o do pa√≠s, e uma certa configura√ß√£o da dimens√£o do p√ļblico capaz de impor limites aos potentados locais, da√≠ resultando a institui√ß√£o de um sistema de ordem racional-legal de pressupostos liberais.
Desde o Imp√©rio, a recusa a essa heran√ßa e a sua identifica√ß√£o como raiz dos nossos males, como na cr√≠tica do publicista Tavares Bastos, encontrou sua inspira√ß√£o no que seria o feliz exemplo americano. A centraliza√ß√£o de estilo asi√°tico, herdada da metr√≥pole, sufocaria as energias vivas do pa√≠s, que estaria dominado por uma burocracia parasit√°ria, que impediria seus cidad√£os de conhecerem as pr√°ticas das liberdades p√ļblicas, √ļnica escola que poderia educ√°-los para o civismo. Esse diagn√≥stico, animado pelos ideais do self-government americano, esteve na base da reivindica√ß√£o pela Federa√ß√£o, inspira√ß√£o forte das elites estaduais, principalmente as de S√£o Paulo, que logo se uniram contra o Imp√©rio no movimento republicano.
Se o Imp√©rio seria a Ib√©ria e suas tradi√ß√Ķes cedi√ßas, a Rep√ļblica nascente se voltaria para o modelo americano, como na sua carta de identidade apresentada em sua Constitui√ß√£o de 1891, na institucionaliza√ß√£o da Federa√ß√£o e na valoriza√ß√£o da cultura material e culto do desenvolvimento das for√ßas produtivas, exemplar no fervor com que Rui Barbosa, ent√£o ministro da Fazenda do Governo Provis√≥rio, se atirou na campanha pela expans√£o da malha da rede ferrovi√°ria. Mas logo a 1¬™ Rep√ļblica perverteu, com a chamada pol√≠tica dos governadores, os ideais federativos, traduzindo o seu Estado os interesses particularistas dos estados hegem√īnicos - S√£o Paulo e Minas Gerais - e vinculando o poder local ao Poder Central por meio do sistema do coronelismo. Restaurou-se, assim, a centraliza√ß√£o que antes fora denunciada como heran√ßa de uma Ib√©ria patrimonialista.
A americaniza√ß√£o que n√£o nos veio com as institui√ß√Ķes pol√≠ticas da Carta liberal de 1891, vir√° "por cima" com a Revolu√ß√£o de 1930 e a partir de uma f√≥rmula corporativa autorit√°ria. A ind√ļstria e a imposi√ß√£o do ethos do industrialismo passam a ser os fins a serem perseguidos pela pol√≠tica do Estado, em uma a√ß√£o reformadora de largo alcance: cria-se o Dasp no objetivo de favorecer o m√©rito no acesso ao servi√ßo p√ļblico, e sobretudo uma legisla√ß√£o trabalhista que, al√©m de regular o mercado de trabalho dos assalariados urbanos em √Ęmbito nacional, deveria se instituir como meio de valoriza√ß√£o da √©tica no trabalho e escola de civismo para os trabalhadores nos sindicatos tutelados pelo Estado.
Dessa forma, inaugurava-se um arranjo paradoxal, que persistir√° pelas longas d√©cadas do processo de moderniza√ß√£o autorit√°ria do pa√≠s, em que seria a nossa tradi√ß√£o ib√©rica, com sua preced√™ncia da esfera p√ļblica sobre a esfera privada, a respons√°vel pela realiza√ß√£o das aspira√ß√Ķes americanas em favor de uma cultura material robusta e de uma moderna sociedade de massas. Resultado bem distante dos anelos americanistas dos nossos liberais que preconizavam a conquista do moderno por uma via "natural", de baixo para cima, na expectativa de que a crescente diversifica√ß√£o da estrutura econ√īmica, e a complexifica√ß√£o social a ela associada, viessem a gerar uma moderna sociedade de classes.
O regime militar esgotou as possibilidades desse arranjo, inclusive em raz√£o dos seus pr√≥prios √™xitos na moderniza√ß√£o econ√īmica e social do pa√≠s. Mudara a demografia, a popula√ß√£o passara a ser majoritariamente urbana, transformara-se a composi√ß√£o da estrutura de classes, inclusive a classe oper√°ria dos centros industriais mais modernos, e, por toda parte, uma nova sociedade emergente reclamava liberdades civis e p√ļblicas e autonomia para suas associa√ß√Ķes. O PT nasce nesse novo contexto, expressando a necessidade de um novo sindicalismo em ruptura com as antigas estruturas corporativas que o vinculavam ao Estado e a seus fins. Marca de origem a defesa do princ√≠pio da supremacia das bases da vida associativa sobre seus v√©rtices, a autonomia da sociedade civil diante do Estado e a valoriza√ß√£o da auto-organiza√ß√£o do social. Assim, desde a cr√≠tica dos publicistas liberais √† malfadada heran√ßa ib√©rica, pela primeira vez surgia entre n√≥s um partido onde ecoavam os antigos ideais dos nossos americanistas, e com a qualifica√ß√£o fundamental da sua origem se radicar nos setores subalternos, em particular no sindicalismo oper√°rio.
Decifrar a natureza presente desse partido e sua mete√≥rica ascens√£o na pol√≠tica brasileira, compreender como lhe foi poss√≠vel transitar sem traumas da posi√ß√£o de um partido de sociedade civil para a da situa√ß√£o atual de um partido de Estado, vai persistir como um enigma obscuro enquanto a an√°lise se contentar com categorias de raiz irracional, como o carisma. Uma pista talvez mais sugestiva possa ser encontrada no fato de que nele e no seu governo convergiram, por ensaio e erro, as duas matrizes da nossa forma√ß√£o: a ib√©rica e a americana, a primeira, tida como exausta quando o PT inicia sua trajet√≥ria, ressurreta, agora, por sua interven√ß√£o; a segunda, nele presente, instalada no seu c√≥digo gen√©tico desde os tempos do sindicalismo do ABC. Sob essa configura√ß√£o, que a todos parecia improv√°vel, o PT n√£o se apresenta como um partido, mas como s√≠ntese das oposi√ß√Ķes que viram a sociedade nascer, e como um final feliz para a hist√≥ria do Brasil, em que n√£o h√° mais espa√ßo leg√≠timo para outros partidos.
O eterno retorno (21 jun.)
Parece que o rel√≥gio da hist√≥ria atual do Brasil desandou: quanto mais ele avan√ßa no tempo, mais volta ao seu passado em busca de velhas solu√ß√Ķes. Fora de controv√©rsias a natureza bem-sucedida do nosso capitalismo, indicada de modo evidente na for√ßa do seu sistema financeiro, estatal e privado, no seu diversificado parque industrial, no agroneg√≥cio, na sua presen√ßa afirmativa na cena do mundo. Essa for√ßa da economia capitalista brasileira √© registrada, dia a dia, em todos os ve√≠culos da m√≠dia que abrem amplos espa√ßos aos seus temas -¬†quando n√£o inteiramente dedicados a eles -, mobilizando um sem n√ļmero de especialistas em suas quest√Ķes e na tradu√ß√£o de suas demandas para o governo e para a opini√£o p√ļblica, quando dissemina sua linguagem e seus valores em v√°rias camadas sociais.
Essa presen√ßa poderosa da economia capitalista na nossa vida social se expressa com igual vitalidade na vida associativa que re√ļne os seus dirigentes em influentes corpora√ß√Ķes, como a Fiesp e a Febraban, para n√£o mencionar a rede com que o chamado sistema S recobre, capilarmente, a sociedade civil, inclusive nas artes e na cultura, bem o caso do Sesc, que se substitui ao Estado na prote√ß√£o de manifesta√ß√Ķes vulner√°veis do ponto de vista do mercado, exemplarmente as da atividade teatral.
Tais √™xitos, contudo, n√£o podem ser inteiramente debitados √† livre iniciativa, n√£o sendo o resultado "natural", ao longo do tempo, das a√ß√Ķes, c√°lculos e delibera√ß√Ķes dos agentes econ√īmicos, mas sim, em grande parte, ao Estado e √† sua pol√≠tica que, desde os anos 1930, impuseram os objetivos e as linhas mestras do processo de moderniza√ß√£o que recriou o pa√≠s. A nossa moderniza√ß√£o, como se sabe, nos veio verticalmente, de cima para baixo, caracteristicamente autorit√°ria, ora duramente repressiva como nos ciclos 1937-45 e 1964-85, ora sob formas mais brandas como no governo JK, e da sua obra, como tra√ßos principais, ficaram n√£o s√≥ a articula√ß√£o solid√°ria entre suas elites urbano-industriais com as agr√°rias, como tamb√©m formas de organiza√ß√£o corporativa dos interesses de empres√°rios e trabalhadores.
Com a democratiza√ß√£o do pa√≠s, o peso dessa heran√ßa logo se fez sentir. Salvo o caso do PT que se constituiu como um partido classista e de agrega√ß√£o de interesses dos trabalhadores - de in√≠cio, fundamentalmente do setor industrial -, os grandes interesses dos setores urbanos industriais, assim como o dos agr√°rios, tiveram um papel secund√°rio na reorganiza√ß√£o da vida partid√°ria. Essa dist√Ęncia quanto aos partidos conta com mais um exemplo no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), cuja op√ß√£o foi a de preservar sua identidade de movimento social, deixando sem representa√ß√£o partid√°ria direta o que nos restava de campesinato e a pequena propriedade rural.
Sob essa estrat√©gia, as velhas formas de representa√ß√£o recuperaram vi√ßo, fortalecendo seus v√≠nculos com o Estado e adotando uma perspectiva instrumental em rela√ß√£o aos partidos - no interior do Legislativo, segmentos de interesses atuam por meio de bancadas de parlamentares pertencentes a v√°rios partidos. Tal pr√°tica se tem refor√ßado pelo fato de os √ļltimos governos, especialmente o do PT, terem atribu√≠do posi√ß√Ķes-chave na administra√ß√£o p√ļblica a lideran√ßas de corpora√ß√Ķes. Nessa dire√ß√£o, o governo do PT foi al√©m, ao criar o Conselho de Desenvolvimento Econ√īmico e Social, de formata√ß√£o inequivocamente corporativa, a fim de exercer fun√ß√Ķes de media√ß√£o direta entre ele e a sociedade.
Com essa orienta√ß√£o, o atual governo, oriundo do antigo partido classista dos anos 1980, restaura o estilo e institui√ß√Ķes t√≠picas do Estado Novo, redescobrindo, em condi√ß√Ķes de plena democracia pol√≠tica, a f√≥rmula de um capitalismo politicamente orientado que n√£o imp√Ķe seus fins a seus agentes econ√īmicos porque os estabelece em negocia√ß√£o com eles. Assim, temos o processo de moderniza√ß√£o mais bem-sucedido do antigo 3¬ļ Mundo, temos uma Constitui√ß√£o que consagra a democracia pol√≠tica e cria instrumentos eficazes para sua defesa e aperfei√ßoamento, mas n√£o contamos com partidos fortes, nem com uma sociedade robusta em termos de organiza√ß√£o pol√≠tica.
O liberalismo dos empresários é vocalizado nos editoriais e nas páginas de opinião dos grandes jornais; o socialismo, nas revistas dos intelectuais. Mas, como ninguém ignora, nem um nem outro são figuras em extinção, eles estão aí, inclusive como ideologia silenciosa de próceres da atual administração. Mas se não há, na sociedade, espaço para sua expressão é porque esse Estado que está aí não admite espaço vazio que não tenha a marca da sua ocupação.
Fora do mundo dos interesses organizados e das institui√ß√Ķes dedicadas a eles, h√° o povo, objeto passivo das pol√≠ticas p√ļblicas, mas presen√ßa determinante na hora das urnas, quando a linguagem sist√™mica conta pouco, salvo para o grupo seleto dos diretamente envolvidos em sua l√≥gica. Para ele, se reserva a linguagem dos sentimentos, como a da compaix√£o, porque ser√° da sua inclina√ß√£o que se vai ter a decis√£o do lado vencedor.
A ressurg√™ncia do tema do populismo, lido agora em luz favor√°vel, mesmo por parte dos seus ferozes cr√≠ticos no passado, vem dessa atrofia da pol√≠tica, da imobiliza√ß√£o da sociedade diante de um Estado que traz tudo para si como se fosse um agente da Provid√™ncia. N√£o h√° porque discutir os rumos poss√≠veis para a nossa sociedade: sistemicamente, eles j√° est√£o previstos, o que cumpre fazer √© ganhar a alma popular, quando a pol√≠tica se confunde, ent√£o, com as artes demi√ļrgicas de quem, por destino, aprendeu a decifr√°-la.
O efeito Marina (14 jun.)
Na sucess√£o presidencial que se avizinha temos conhecido apenas dois tempos: o do passado e o do presente, pois o do futuro, a valer a ret√≥rica dominante, que n√£o parece temer a ira dos deuses, deve ser cont√≠nuo a este que temos a√≠, sujeito, √© claro, a aperfei√ßoamentos. No presente j√° se poderia contar com a solu√ß√£o feliz de impasses hist√≥ricos que antes dramatizavam a pol√≠tica brasileira: o mundo agr√°rio, um velho celeiro de conflitos, estaria domesticado pela emerg√™ncia do agroneg√≥cio e a difus√£o das rela√ß√Ķes capitalistas no campo; e, por toda parte, a l√≥gica dos conflitos se confinaria ao terreno da simples disputa por interesses. Dessa forma, combater as desigualdades sociais n√£o mais importaria em trazer √† cena o tema da explora√ß√£o, ressalvadas as quest√Ķes-limite como a do trabalho escravo. No mais, essa seria uma quest√£o a ser remetida para o terreno das pol√≠ticas p√ļblicas.
A pr√≥pria hist√≥ria, heran√ßa maldita com que dever√≠amos romper, passa a ser reinterpretada sob outros filtros, concedendo-se vida nova a institui√ß√Ķes e valores comprometidos com fins e pr√°ticas autorit√°rias, e assim apronta-se mais uma flora√ß√£o para o sindicalismo corporativo, que, ao longo das nossas d√©cadas de moderniza√ß√£o autorit√°ria, tutelou a vida associativa dos trabalhadores. A quest√£o nacional, que mobilizou a sociedade nos anos 1950/60, perde capacidade de universaliza√ß√£o, apropriada como est√° pelo Estado e pela fra√ß√£o do empresariado a ele vinculado. Nessa vers√£o, tanto o Estado Novo de 1937 como o regime militar de 1964-1985 passam a ser percebidos acriticamente, pelo tipo de reflex√£o panglossiana que ora nos conduz, como momentos necess√°rios para a realiza√ß√£o apote√≥tica dos fins de grandeza a que o pa√≠s estaria, desde sempre, predestinado.
Com esses tempos empatados - o de um presente que não quer ir além de uma reiteração em roupa nova do passado -, o tempo do futuro, afinal, fez sua aparição nessa sucessão presidencial, embora ainda de modo tímido e reverencial com o discurso dominante, por meio da fala com que a senadora Marina Silva lançou-se como candidata pelo PV. Com palavras que introduziram um alento de ar fresco nesse início de campanha, foi ao cerne do problema atual da democracia brasileira, sob risco iminente de converter a cidadania dos seus seres subalternos em uma vasta clientela: "Saímos da cesta básica, fomos para um bom programa de transferência de renda. Agora vamos para um bom programa, que mobilize a sociedade brasileira. Junto com essa política terá que vir também um novo tipo de Estado. Sair da ideia de um Estado provedor, que faz as coisas para as pessoas, para um Estado mobilizador, que faz as coisas com as pessoas. Não é fazer para os pobres, mas com os pobres".
Tal novo tipo de Estado deve resultar da sua amplia√ß√£o para admitir ao estatuto da plena cidadania - direitos civis, pol√≠ticos e sociais - aqueles at√© ent√£o destitu√≠dos dela, em um movimento de baixo para cima, a partir da auto-organiza√ß√£o da vida social, e n√£o do modo assim√©trico como vem ocorrendo. Para esse fim, ele deve se revestir de um papel pedag√≥gico que tenha como norte estimular a emerg√™ncia de lideran√ßas extra√≠das da vida popular sem estarem sujeitas aos mecanismos da clientela e da coopta√ß√£o. Assumir a mobiliza√ß√£o como miss√£o, na forma, ali√°s, do que tentou o segundo Vargas dos anos 1950-54, quando, em nome de suas lutas em favor da quest√£o nacional, abdicou das formas repressivas de controle sobre as associa√ß√Ķes dos trabalhadores, por ele mesmo impostas √† √©poca do Estado Novo, a fim de encontrar nelas sustenta√ß√£o pol√≠tica.
Essa l√ļcida interven√ß√£o da candidata Marina n√£o merece ser vista meramente da perspectiva do c√°lculo eleitoral, mas do seu valor intr√≠nseco. Marina, com seus escassos recursos de campanha e ex√≠guo tempo de televis√£o no hor√°rio gratuito da campanha eleitoral, n√£o parece, fora mudan√ßas de todo imprevistas, se constituir em uma candidata competitiva. Importa muito, no caso, fazer do seu diagn√≥stico e da pol√≠tica que dele decorre um ponto de relevo estrat√©gico na agenda dos debates presidenciais, instalando a pol√≠tica no centro da mat√©ria da sucess√£o, deixando para tr√°s as obscuras e bizantinas discuss√Ķes de como se deve operar, segundo o c√Ęnon da tecnocracia, a macroeconomia brasileira, inclusive porque nem o mais experimentado navegador domina por antecipa√ß√£o qual o regime dos ventos de amanh√£ de manh√£.
Outra importante contribui√ß√£o importante da candidatura Marina para a campanha eleitoral reside no seu vi√©s internacionalista, implicitamente contido em suas posi√ß√Ķes em defesa do meio ambiente, bem p√ļblico de todos os homens. Pois, nessa hora de pensar o futuro do pa√≠s, j√° n√£o √© sem tempo p√īr sob a luz da cr√≠tica algumas tend√™ncias em curso que o concebem em chave gr√£-burguesa, fechado em sua l√≥gica interna e animado por uma ideologia de grandeza nacional.
A sucess√£o e o banho de lua (7 jun.)
Tal como no bel√≠ssimo romance O albatroz azul, de Jo√£o Ubaldo Ribeiro, em que o nascimento de uma crian√ßa √© bafejado pelo sortil√©gio dela ter vindo ao mundo de bunda para a lua, feliz aug√ļrio, conforme antiga cren√ßa, de que ela seria dotada de melhor sorte do que a sua sofrida fam√≠lia, j√° d√° para suspeitar que algo com o mesmo cond√£o prop√≠cio se faz presente no governo Lula. S√≥ mesmo a prote√ß√£o do destino seria capaz de reverter o que parecia ser uma aposta gr√°vida de perigos, como a cartada iraniana da diplomacia presidencial, em um trunfo promissor para o sucesso dessa interven√ß√£o em paragens t√£o distantes como as do Oriente M√©dio.
Pois foi o que aconteceu a partir dessa malfadada e in√≠qua agress√£o praticada por for√ßas militares de Israel contra uma flotilha de volunt√°rios que tentavam levar solidariedade √† popula√ß√£o palestina da Faixa de Gaza, e que p√īs a nu os equ√≠vocos cometidos pelos dirigentes daquele Estado quanto √† sua pol√≠tica para a sua regi√£o, suscitando um clamor de protestos da comunidade e da opini√£o p√ļblica internacionais. A mesma boa sina socorreu o presidente quando do epis√≥dio do mensal√£o em 2005, do qual saiu indene de uma avalanche de den√ļncias de corrup√ß√£o contra o seu governo para uma consagradora reelei√ß√£o no ano seguinte.
A calmaria em que transcorre a sucessão presidencial, desconhecendo, ao menos até aqui, duros antagonismos entre os três principais candidatos envolvidos, assemelhados em tantos aspectos cruciais, pode sugerir que estamos a assistir a uma disputa entre alas de um mesmo partido.
Como que postos de acordo quanto ao principal, os candidatos divergem em quest√Ķes t√≥picas, a exemplo, entre outras, do quantum de autonomia de que deveria gozar o Banco Central, de como encaminhar uma reforma tribut√°ria - exigiria ela uma emenda constitucional? -, todos alinhados a uma perspectiva p√≥s-Lula, que n√£o deixa de ser, querendo ou n√£o, tamb√©m p√≥s-FHC, com os temas da estabilidade financeira e da responsabilidade fiscal.
Enfim, a se tomar pelas aparências, já teríamos atingido um ponto ótimo na história da evolução do país, restando agora cuidar - porque podemos mais - do seu aperfeiçoamento. E, assim, essa hora da sucessão, longe de impor um debate sobre os caminhos já percorridos e sobre a marcação dos objetivos estratégicos a serem atingidos, se apequena na rotina e na reiteração de práticas, algumas delas tidas como tão consagradas que ninguém se atreve a discuti-las. Tudo se passa como se não estivéssemos no fim de um governo, mas no seu recomeço. Para que, então, uma sucessão?
Dessa forma, uma pol√≠tica orientada para intervir em car√°ter emergencial, leg√≠tima enquanto tal, como o assistencialismo do programa Bolsa Fam√≠lia, amea√ßa se tornar permanente sem que se discutam os seus aspectos perversos, como a cria√ß√£o de uma gigantesca clientela a que n√£o se fornecem os meios para escapar dessa condi√ß√£o. Mais que isso, apresenta-se o que deveria ser apenas um paliativo como instrumento id√īneo de corre√ß√£o da nossa desigualdade social.
Nessa circunst√Ęncia, em que o que vale √© o resultado imediato, redescobrem-se, no ba√ļ da nossa hist√≥ria, velhas ferramentas a que se pretende dar uso novo, como o sindicalismo controlado por seus v√©rtices, agora representados por centrais sindicais dependentes do imposto sindical.
Amplia-se o Estado em um sem n√ļmero de ag√™ncias que invadem a esfera da sociedade civil com a disposi√ß√£o de regul√°-la por cima. O social passa √† √≥rbita de um Estado administrativo sob a gest√£o de uma tecnocracia especializada, tal como se pretendera fazer com o mundo do trabalho nos idos do Estado Novo. Nessa chave, a sociedade civil √© vista como uma mat√©ria-prima sobre a qual deve se exercer a modelagem de uma intelligentsia de novo tipo, a que se atribui a miss√£o de combater a desigualdade social.
Nessa constru√ß√£o, n√£o sobra espa√ßo para a pol√≠tica, quase um monop√≥lio de fato do Estado e dos seus agentes. Estiolam-se os partidos, boa parte deles destitu√≠dos de representa√ß√£o significativa, dependentes de favores do governo, sem vida pr√≥pria, apropriados por uma "classe pol√≠tica", em sua maioria, animada pelo projeto √ļnico de garantir a sua reprodu√ß√£o. Ausente a energia que prov√©m da luta pol√≠tica, vive-se na modorra do pensamento √ļnico, qualquer manifesta√ß√£o de disson√Ęncia com os rumos atuais, a que restaria apenas aperfei√ßoar, soando como um crime de lesa-majestade. N√£o h√° sucess√£o livre sem que haja livre discuss√£o sobre que sociedade queremos para viver, sobre uma avalia√ß√£o da nossa hist√≥ria e a determina√ß√£o das escolhas com que pretendemos dar continuidade a ela.
Mas, se a pol√≠tica, enquanto atividade consciente dos homens para tentar criar o seu destino, est√° em baixa e sob o controle de alguns poucos, temos um potente mundo dos interesses, grandes e pequenos, uns bem mais atendidos que outros, prontos ao conflito, se muito contrariados. Certamente, no que se avizinha, interesses ser√£o afetados, n√£o necessariamente os grandes, e nem sempre pass√≠veis de compensa√ß√£o por vias administrativas. Se at√© aqui o decantado carisma de Lula e a sua proverbial boa sorte permitiram que as fortes contradi√ß√Ķes entre eles n√£o ganhassem as ruas, sempre resolvidas por acordos nos gabinetes ministeriais sob a arbitragem presidencial, resta pouca esperan√ßa de que, com esses pretendentes √† sucess√£o, o mesmo rem√©dio seja eficaz. Seguramente, falta-lhes o carisma e √© prov√°vel que tamb√©m lhes falte o mesmo banho de lua. A pol√≠tica de que estamos t√£o distantes, oculta nas raz√Ķes da gram√°tica tecnocr√°tica, promete nos cobrar com juros a sua pr√≥xima apari√ß√£o.
Moderno São Paulo e a política nacional (31 maio)
Nessa pr√≥xima sucess√£o, salvo mudan√ßas catastr√≥ficas no estado atual da disposi√ß√£o das for√ßas pol√≠ticas do pa√≠s, teremos mais um presidente extra√≠do das fileiras ou do PSDB ou do PT, mais quatro anos para esse ciclo que se abriu em 1994 e que est√° destinado a completar duas d√©cadas em 2014. Nenhum outro partido durante esse longo per√≠odo conseguiu se projetar de modo competitivo a ponto de amea√ßar a posi√ß√£o desses dois partidos nas disputas presidenciais, largamente majorit√°rios nos resultados das elei√ß√Ķes presidenciais, embora, como se saiba, n√£o contem com for√ßa pr√≥pria de sustenta√ß√£o no Poder Legislativo, dependentes, quando vitoriosos eleitoralmente, de amplas coaliz√Ķes com outros partidos. Essa ressalva, contudo, n√£o contraria o fato de que ambos se constituam como partidos hegem√īnicos na estrutura partid√°ria brasileira, e de que sejam reconhecidos como tais pelos demais partidos.
Mas essa hegemonia embute outra, qual seja, o papel dominante do Estado de S√£o Paulo na pol√≠tica da Federa√ß√£o. Tanto o PSDB como o PT s√£o "partidos paulistas", nascidos de movimentos sociais que fizeram parte da resist√™ncia ao regime militar, o segundo com origem no sindicalismo da regi√£o do ABC, sede da moderna ind√ļstria metal√ļrgica, e, o primeiro, como express√£o de c√≠rculos intelectuais e de pol√≠ticos nucleados em torno de um diagn√≥stico comum sobre o que seriam os males do pa√≠s. Desse tempo origin√°rio guardaram marcas que conservaram nos seus primeiros embates eleitorais, √© verdade que, hoje, algumas delas bem esmaecidas, quando n√£o relegadas ao plano do que deve ser esquecido. Contudo, a mem√≥ria da inf√Ęncia nos partidos √© como nas pessoas - um partido j√° formado √© prisioneiro, de algum modo, da sua hist√≥ria de funda√ß√£o.
PT e PSDB, embora procedentes de regi√Ķes diversas do social, v√£o ter em comum a valoriza√ß√£o da matriz do interesse e a den√ļncia do patrimonialismo, e n√£o √† toa Os donos do poder, o cl√°ssico de Raimundo Faoro, ser√° refer√™ncia de ambos ao come√ßarem suas trajet√≥rias. Ali√°s, Faoro foi um dos fundadores do PT e √© celebrado como um dos √≠cones do partido. Precisamente nesse sentido √© que podem ser compreendidos como partidos paulistas na medida em que localizam no Estado a raiz do nosso autoritarismo pol√≠tico, das pol√≠ticas de clientela e de um burocratismo parasit√°rio a impedir a livre movimenta√ß√£o da sociedade civil. No diagn√≥stico da √©poca, era preciso emancipar os mecanismos da representa√ß√£o pol√≠tica dos da coopta√ß√£o, tra√ßo do nosso DNA herdado da hist√≥ria ib√©rica. No caso dos sindicatos, preconizava o PT, era preciso romper com a Consolida√ß√£o da Legisla√ß√£o Trabalhista (CLT) e conduzir suas a√ß√Ķes reivindicativas para o sistema da livre negocia√ß√£o com os empres√°rios, cuja for√ßa dependeria da sua capacidade de organiza√ß√£o e de mobiliza√ß√£o dos trabalhadores.
A matriz do interesse, al√©m de moderna, seria libert√°ria, vindo a significar uma ruptura com uma cultura pol√≠tica que afirmaria a primazia do Estado e dos seus fins pol√≠ticos sobre a sociedade civil. Essas afinidades no ponto de partida n√£o resistiram √† exposi√ß√£o √†s circunst√Ęncias da pol√≠tica. Nascidos no mesmo solo, com v√°rios pontos em comum, essas duas flora√ß√Ķes da social-democracia brasileira, partindo de S√£o Paulo, igualadas em for√ßa a√≠, mais do que aproximar as suas converg√™ncias, se entregam a uma dura luta por territ√≥rio. No plano da disputa nacional, essa luta se tem caracterizado pelo esfor√ßo desses partidos em arregimentar aliados que engrossem suas hostes, desequilibrando a disputa em seu favor.
Assim, essas express√Ķes do moderno na pol√≠tica brasileira, que se t√™m encontrado em tantos pontos na moderniza√ß√£o e expans√£o do capitalismo brasileiro, encaminham o seu antagonismo na disputa pelas for√ßas do atraso pol√≠tico e social. Com isso, os impulsos modernizadores vindos de S√£o Paulo s√£o moderados pelo c√°lculo pol√≠tico que preside a disputa entre seus grandes partidos - um deles, o PSDB, governando o Estado h√° vinte anos e pretendente a govern√°-lo por mais quatro. Para cada qual importa, al√©m das quest√Ķes inarred√°veis de suas agendas, capturar o maior n√ļmero poss√≠vel de for√ßas aliadas, indiferentes ao atraso pol√≠tico e social que representam, como no caso, por exemplo, do Maranh√£o do cl√£ de Sarney, cobi√ßado pelo PT, ou do PTB de Roberto Jefferson, objeto de desejo do PSDB.
Esses movimentos, meramente instrumentais para os fins da competição eleitoral, contudo, não são ingênuos quanto à própria história desses partidos, que mudam com eles. A surpreendente mudança do PT, que, de ácido crítico da Era Vargas e da tradição republicana em geral, passou a incorporar muito de suas práticas, pode ser explicada, em boa parte, por essa lógica. Assim, no movimento sindical, as forças genuinamente petistas, com um histórico de lutas contra o imposto sindical e o princípio da unicidade sindical, hoje se veem tangidas a participar de uma estrutura sindical que sempre condenaram como lesiva à autonomia dos trabalhadores. A resposta do PSDB, ao incorporar acriticamente o atraso, mimetiza a do PT. Aliás, nesta sucessão, alguém sabe qual o programa do PSDB para a reforma trabalhista?
O velho sindicalismo, na carona do novo, encontrou sua sobrevida, moderando, quando n√£o interditando em muitos aspectos relevantes, a passagem do moderno. O mesmo vem ocorrendo com os agentes do patrimonialismo das antigas oligarquias regionais, que preservam o seu dom√≠nio a partir de suas articula√ß√Ķes com o moderno; dessa forma, cindido em dois como est√°, este √ļltimo capitula de dirigir o atraso a fim de transform√°-lo para simplesmente se associar a ele.
A novela da sucessão (24 maio) 
Em uma democracia de massas, uma sucess√£o presidencial suspende a marcha ordin√°ria da pol√≠tica, p√Ķe sob tela de ju√≠zo o script at√© ent√£o estabelecido e se abre √†s promessas da novidade. Como em uma novela, esse √© um momento em que se come√ßa a delinear o esbo√ßo de um pr√≥ximo cap√≠tulo a partir da interpreta√ß√£o do que acaba de se viver. Toda hist√≥ria tem um autor, em princ√≠pio o senhor da trama que tece, mas todos j√° ouvimos falar da experi√™ncia de escritores que se surpreenderam quando viram personagens, nascidos da sua imagina√ß√£o, ganharem anima√ß√£o aut√īnoma, passando como que a agir por conta pr√≥pria.
Quando há um processo de sucessão institucionalizado, mesmo em regimes políticos autoritários, como ocorreu aqui em tempos recentes, a mudança no comando político nunca é trivial - a passagem do bastão nos governos dos generais-presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, cada um deles levado ao poder por um círculo homogêneo de eleitores muito restrito, como se sabe, não desconheceu o conflito e a mudança de rumos.
No entanto, a presente sucessão transcorre, ao menos até aqui, de acordo com as estratégias dos dois principais candidatos, a de Serra e a de Dilma, como se o próximo capítulo - inevitavelmente, mais uma vez, sob a égide dos partidos de hegemonia paulista, o PT e o PSDB - já estivesse comprometido a reprisar, com retoques, os anteriores. Tanto a retórica de Serra quanto a de Dilma apontam para essa direção, os dois reivindicando para si o papel de melhor intérprete para continuar um roteiro supostamente consagrado.
As diferen√ßas se resumiriam a quest√Ķes operacionais na condu√ß√£o da economia, como, por exemplo, na quest√£o de juros e no grau de relativa autonomia a ser desfrutada pelo Banco Central diante das autoridades governamentais. Serra, como A√©cio Neves preconizava, n√£o seria um candidato de oposi√ß√£o, definindo-se como um p√≥s-Lula. Dilma, por sua vez, seria Lula como um outro corpo do Rei, em vig√≠lia fiel de quatro anos √† espera que seu verdadeiro titular reocupe seu lugar. Nesse jogo de simula√ß√Ķes, o que importa, para uma candidatura, √© a heran√ßa da popularidade de Lula, e, para a outra, n√£o confront√°-la. N√£o importa que o cen√°rio do mundo esteja mudando √† frente de todos, como bem atesta a profundidade da crise da Uni√£o Europeia, logo em seguida √† crise financeira de fins de 2008. Como que indiferente a ele, a pauta dos candidatos segue obedecendo aos c√°lculos do marketing pol√≠tico.
Mas h√° algo nesse enredo que n√£o encaixa. Se Dilma pode ser eleita pelo lulismo, n√£o poder√° governar com ele, na medida em que ele √© atributo intransfer√≠vel do carisma do seu inventor. Ela ter√° de governar com o PT e com a coaliz√£o pol√≠tica que a eleger, na qual est√° o PMDB, com um dos seus cardeais instalado na Vice-Presid√™ncia da Rep√ļblica. Por outro lado, o bord√£o nacional-popular n√£o √© pr√≥prio para a nova inscri√ß√£o internacional do pa√≠s e para as aspira√ß√Ķes de projetar o capitalismo brasileiro na economia-mundo, que requer uma gram√°tica dominada pelo pragmatismo.
Uma indica√ß√£o disso est√° nas abdica√ß√īes de Jos√© Eduardo Dutra, presidente do PT, e de Antonio Palocci, um condest√°vel da pol√≠tica econ√īmica, das suas pretens√Ķes eleitorais a fim de assumirem posi√ß√Ķes de comando na campanha eleitoral de Dilma. Caso ela seja eleita, n√£o h√° outra leitura poss√≠vel, ambos ser√£o guindados ao seu minist√©rio, al√©m, √© claro, de Henrique Meireles. De outra parte, Serra, mesmo que n√£o confronte com o governo atual, para que seja um candidato competitivo, ter√° de sustentar outro andamento √† hist√≥ria em que estamos h√° 16 anos envolvidos, apresentando alternativas persuasivas que garantam continuidade a ela, em especial em mat√©rias como a da quest√£o social e a do crescimento econ√īmico. Nessa agenda, deve ser inclu√≠da a valoriza√ß√£o de uma vida civil ativa e aut√īnoma, uma vez que n√£o s√£o compat√≠veis com a nova democracia pol√≠tica brasileira as tend√™ncias que a√≠ est√£o de estataliza√ß√£o dos movimentos sociais, inclusive dos sindicatos.
A novela que nos tem como seu p√ļblico obrigat√≥rio, a essa altura incapaz de mobilizar paix√Ķes, destitu√≠da de suspense, com suas reviravoltas e artimanhas nossas velhas conhecidas, n√£o deve passar pelo hiato da Copa do Mundo. Depois dela, cair√£o as m√°scaras da dissimula√ß√£o, e o enredo ficar√° tenso e cheio de surpresas: √© ainda poss√≠vel manter, na frente agr√°ria, o agroneg√≥cio sob a press√£o dos movimentos sociais do tipo MST; como compatibilizar, com os dois lados ganhando, os interesses dos chamados ruralistas com um vigoroso movimento ambientalista, hoje identificado com uma candidatura presidencial?
Noutra ponta: o nacional-desenvolvimentismo, com seus imperativos pol√≠ticos de proje√ß√£o do poder nacional, pode encontrar lugar em uma economia conduzida pelo eixo Henrique Meirelles-Antonio Palocci? Qual a dial√©tica que poder√° sustentar a pol√≠tica externa atual com as necessidades, a essa altura inarred√°veis, do pa√≠s ocupar uma posi√ß√£o entre os grandes do mundo? As demandas pelas reformas trabalhista e previdenci√°ria, desejadas pelo empresariado, como se haver√£o com a resist√™ncia dos sindicatos, hoje, em franco processo de recupera√ß√£o da sua for√ßa de outrora? Lula, no seu tempo, que j√° n√£o √© o de agora, p√īde conciliar esses antagonismos. Algu√©m mais pode?
Pequenas grandes mudanças (17 maio)
A iniciativa popular conhecida pela designa√ß√£o de lei dos "Ficha Suja", ora em tramita√ß√£o no Congresso Nacional, j√° aprovada com vota√ß√£o altamente expressiva na C√Ęmara dos Deputados, al√©m do seu valor intr√≠nseco como um meio capaz de produzir efeitos benfazejos na nossa representa√ß√£o pol√≠tica, √© mais um sinal positivo no processo de aperfei√ßoamento das nossas institui√ß√Ķes. Ela significa que a transi√ß√£o pol√≠tica do regime autorit√°rio para a democracia, longe da interpreta√ß√£o de alguns, importou mudan√ßas de fundo, algumas percebidas imediatamente, outras, somente com o transcurso do tempo.
Dessa √ļltima natureza est√£o aquelas dependentes da a√ß√£o de atores externos √† esfera p√ļblica institucionalizada, como a do simples cidad√£o singular, bem o caso dessa iniciativa contra os "Ficha Suja". Isso se deve ao fato, tamb√©m negligenciado, de que, se n√£o houve uma ruptura de tipo cl√°ssico contra o sistema da ordem do nosso antigo regime, a Constitui√ß√£o, filha da resist√™ncia democr√°tica √† ditadura e da forte mobiliza√ß√£o popular que a sustentou, instituiu um conjunto de instrumentos postos √† disposi√ß√£o da sociedade para agir em nome pr√≥prio em busca dos seus diferentes fins. A decanta√ß√£o da sua obra na vida civil, especialmente na consci√™ncia popular, tem sido, como inevit√°vel, lenta e desigual entre as diferentes camadas sociais. No entanto, √© de se registrar - um exemplo entre tantos - que o Estatuto da Cidade, nascido na esteira da filosofia pol√≠tica da Carta de 1988, tem sido apropriado pela linguagem de moradores de favelas cariocas nas suas reivindica√ß√Ķes por direitos.
Tal decanta√ß√£o, a valerem os abundantes dados estat√≠sticos, tem no Judici√°rio um dos seus principais lugares de realiza√ß√£o. E n√£o √† toa, uma vez que √© para a√≠ que convergem as demandas de massa, como nos casos do direito √† sa√ļde, do consumidor e do que diz respeito ao meio ambiente, mobilizando, com frequ√™ncia cada vez maior, os valores e os princ√≠pios consagrados constitucionalmente. Mas esse movimento, tal como se verifica na a√ß√£o dos que se op√Ķem, em nome do princ√≠pio de moralidade p√ļblica, a que a via eleitoral seja facultada a pessoas condenadas por faltas graves contra a pessoa, o patrim√īnio e a administra√ß√£o p√ļblica, n√£o se tem limitado a essa esfera institucional. J√° atinge, portanto, o cora√ß√£o da mat√©ria nas rep√ļblicas - o Poder Legislativo.
Na raiz desse processo, o comando constitucional que admite a iniciativa popular das leis, mas ele est√° de tal forma regulado que pareceria ter sido criado apenas para viver no papel, dado que requer a sua subscri√ß√£o por, no m√≠nimo, um por cento do eleitorado nacional, distribu√≠do pelo menos por cinco estados, com n√£o menos de tr√™s d√©cimos por cento dos eleitores de cada um deles. O fato dessa cria√ß√£o, com tais restri√ß√Ķes draconianas, ter encontrado realiza√ß√£o, envolvendo centenas de milhares de cidad√£os, demonstra a efetividade da decanta√ß√£o acima mencionada. Anterior a essa iniciativa, tamb√©m tendo como objeto impedir a corrup√ß√£o nas disputas eleitorais - a compra de votos, em particular -, a lei 9.840, de 28 de setembro de 1999, foi filha de id√™ntico movimento, e j√° s√£o conhecidos seus √™xitos na vida republicana, especialmente nas pequenas comarcas do hinterland.
A esperada convers√£o em lei da iniciativa contra os Ficha Suja, cercada por in√©dita cobertura da m√≠dia e amparada pela opini√£o p√ļblica, deve pavimentar o caminho para futuras interven√ß√Ķes desse tipo. Vale dizer, o acesso ao Legislativo pela cidadania por via direta, sem a necessidade de intermedia√ß√£o dos partidos pol√≠ticos. Manifesta-se, ent√£o, uma tend√™ncia a que se realize nesse Poder um movimento semelhante ao que, com outros fins, tem como cen√°rio o Judici√°rio - a apropria√ß√£o por parte da cidadania das regras, valores e princ√≠pios da sua Constitui√ß√£o a fim de impor sua presen√ßa no processo de elabora√ß√£o das leis.
√Č preciso olhar para a Lua e n√£o para o dedo que a aponta. A presen√ßa emergente dos cidad√£os na cria√ß√£o de direitos e no aprimoramento da Rep√ļblica, dando vida aos novos instrumentos e processos que a sua Carta pol√≠tica p√īs √† sua disposi√ß√£o, j√° come√ßa a indicar transforma√ß√Ķes de fundo nas rela√ß√Ķes entre a sociedade civil e as institui√ß√Ķes jur√≠dico-pol√≠ticas. No Judici√°rio j√° vingam as pol√≠ticas que estimulam uma via extrajudicial para a resolu√ß√£o de conflitos por meio da concilia√ß√£o e da media√ß√£o, e j√° se cogita do estabelecimento de uma parceria com entidades da sociedade civil a fim de ampliar o alcance desse caminho alternativo ao judicial. Mas √© no Legislativo que esse caminho parece ser mais promissor, tanto pela envergadura de cada iniciativa popular, necessariamente de escala massiva, como pelo seu objeto, sempre um bem p√ļblico de interesse geral. H√° vida, pois, fora das quest√Ķes de c√Ęmbio e de super√°vit prim√°rio.
O problema do jabuti: o Judiciário e a política (10 maio) 
Pode-se, e deve-se, falar nos √™xitos econ√īmicos e sociais, logrados nas duas √ļltimas d√©cadas pela sociedade brasileira, mas essa narrativa estar√° incompleta se forem ignorados os avan√ßos institucionais, a come√ßar pela promulga√ß√£o da Carta de 1988, que j√° imprimem uma marca singular na sua democracia pol√≠tica. Sinais evidentes dessa singularidade se manifestam nas novas rela√ß√Ķes entre os tr√™s Poderes republicanos, que t√™m evolu√≠do no sentido de uma cuidadosa coopera√ß√£o, tal como nos casos de pol√≠ticas p√ļblicas em mat√©ria de sa√ļde e em tantos outros, deixando para tr√°s a cl√°ssica separa√ß√£o r√≠gida entre eles. A mais forte indica√ß√£o das transforma√ß√Ķes por que tem passado o nosso ordenamento jur√≠dico-pol√≠tico pode ser percebida na recente supremacia do direito constitucional sobre o C√≥digo Civil, at√© h√° pouco a sua maior refer√™ncia, importando a afirma√ß√£o da matriz do p√ļblico sobre a nossa tradicional matriz privat√≠stica.
A preval√™ncia do p√ļblico foi uma op√ß√£o estrat√©gica do legislador constituinte, e que importou a constitucionaliza√ß√£o de valores, princ√≠pios e dos direitos fundamentais, express√£o de uma vontade geral quanto aos fins que deveriam ser buscados e concretizados. O int√©rprete dessa vontade seria a sociedade por meio de suas institui√ß√Ķes, e n√£o a esfera estatal, como ocorreu ao longo da persist√™ncia da tradi√ß√£o autorit√°ria republicana. Esse foi um momento de ruptura com a cultura jur√≠dico-pol√≠tica estabelecida, passando a se compreender a Constitui√ß√£o como obra aberta e em progresso cont√≠nuo, e n√£o mais como um sistema fechado orientado para garantir a autonomia privada.
A partir dessa disposi√ß√£o, o constituinte inovou o papel do Poder Judici√°rio na cena republicana, instituindo um conjunto de novos instrumentos, como o mandado de injun√ß√£o e a a√ß√£o de inconstitucionalidade por omiss√£o, com os quais a cidadania poderia acionar os demais Poderes para os fins de conceder efic√°cia aos direitos fundamentais que declarou. Ao lado disso, admitiu uma comunidade de int√©rpretes do texto constitucional, entre os quais partidos e representa√ß√Ķes da vida associativa, dotada da capacidade de interpelar o Supremo Tribunal Federal em nome da defesa da constitucionalidade das leis. Com essas largas interven√ß√Ķes, diluem-se os limites entre os Poderes e se redefine o c√Ęnon que prescrevia um estrito insulamento do Judici√°rio quanto √† pol√≠tica, na medida em que ele √© mobilizado constitucionalmente a dela participar.
Sob impacto dessas inova√ß√Ķes, nosso sistema jur√≠dico, ancorado na tradi√ß√£o da civil law, come√ßa a conhecer elementos de converg√™ncia com a tradi√ß√£o da common law, j√° presente, antes mesmo da vig√™ncia da Carta de 88, sobretudo desde a cria√ß√£o da a√ß√£o civil p√ļblica, em 1985, instituto que adotamos a partir do estudo da sua experi√™ncia americana. Com as a√ß√Ķes civis p√ļblicas, e com a jurisprud√™ncia que a ela se seguiu, que vem ampliando o seu alcance, inclusive em mat√©ria trabalhista, as demandas por pol√≠ticas p√ļblicas encontram uma arena alternativa √† da representa√ß√£o pol√≠tica, levando a que o Judici√°rio se veja, na pr√°tica, compelido a ampliar sua compet√™ncia cognitiva. E, mais importante ainda, a orientar as suas decis√Ķes sopesando suas consequ√™ncias.
A moderna democracia de massas brasileira atua, ent√£o, no sentido de pressionar a abertura do Direito a novos temas e na dire√ß√£o de novas solu√ß√Ķes, exemplar o caso recente em que o Superior Tribunal de Justi√ßa decidiu, em nome das consequ√™ncias, permitir a ado√ß√£o de duas crian√ßas por um casal de mulheres. No caso, contrariando o entendimento de que a uni√£o homossexual seria apenas uma sociedade de fato, venceu a tese de que, para as crian√ßas, o que importava era a qualidade "do v√≠nculo e do afeto no meio familiar em que ser√£o inseridas". As press√Ķes por essa abertura, que v√™m de v√°rias regi√Ķes da vida social, inclusive do mundo do trabalho, p√Ķem sob tens√£o o princ√≠pio da integridade do Direito, que se n√£o as admite corre o risco de perda de legitimidade. A partir dessa dial√©tica entre integridade e abertura, o Direito se torna responsivo, tal como no exemplo acima mencionado.
As tend√™ncias para a transi√ß√£o do Direito Aut√īnomo - a ordem racional-legal cl√°ssica do positivismo jur√≠dico - ao Direito Responsivo, nas novas circunst√Ęncias da democracia brasileira, n√£o podem ser mais ignoradas. Essa transi√ß√£o, tendo como objeto o caso americano, foi estudada, em fins dos anos 1970, no trabalho cl√°ssico de P. Nonet e P. Selznick, Direito e sociedade: a transi√ß√£o ao sistema jur√≠dico responsivo, somente agora, e n√£o por acaso, publicado entre n√≥s (Rio: Revan, 2010). Decerto que nosso caso √© particular, em primeiro lugar porque pertencemos √† fam√≠lia da civil law, em segundo, porque ainda desconhecemos o vigor das lutas pelos direitos civis e a judicializa√ß√£o deles, vivenciados pela sociedade americana na d√©cada decisiva de 1960, e, finalmente, porque anos de burocratismo e de submiss√£o do Judici√°rio ao poder pol√≠tico hipotecaram boa parte dos nossos operadores do Direito ao conservantismo doutrin√°rio.
Jabuti não sobe em árvore, o tema do Direito Responsivo, ao menos in nuce, esteve presente na obra do legislador constituinte, pois foi ele quem intencionalmente incluiu o Judiciário na trama dos impasses sociais. Mas essa obra estará incompleta se não se democratiza e moderniza esse Poder, e essa é mais uma questão que não pode faltar nos debates da próxima sucessão presidencial, porque, parodiando um grande autor, o Judiciário é importante demais para ser objeto exclusivo dos seus especialistas.
Direito, democracia e rep√ļblica (3 maio)
A presen√ßa do Direito e de suas institui√ß√Ķes na vida social e pol√≠tica contempor√Ęnea consiste em uma marca que, independente de ju√≠zo de valor quanto ao fato, se imp√Ķe ao observador. A bibliografia sobre o assunto √© abundante e n√£o para de crescer, girando, em boa parte, em torno da controversa quest√£o que trata da chamada judicializa√ß√£o da pol√≠tica e das rela√ß√Ķes sociais. No Brasil, quando da sua recente despedida da presid√™ncia do Supremo Tribunal Federal, o juiz Gilmar Mendes, apresentando, em tom alarmado, estat√≠sticas sobre a expans√£o da litiga√ß√£o no pa√≠s - hoje, em torno de 80 milh√Ķes de a√ß√Ķes em andamento -, avan√ßou o diagn√≥stico de que "a sociedade brasileira se tornou dependente do Judici√°rio". A ressalva a ser feita √© a de que tal fen√īmeno n√£o nos √© singular, pois afeta, em maior ou menor medida, as sociedades ocidentais desenvolvidas. Antoine Garapon, reputado especialista franc√™s no assunto, fixou em termos lapidares a natureza desse processo ao escrever que o Judici√°rio se teria tornado um moderno muro das lamenta√ß√Ķes.
A avalia√ß√£o cr√≠tica desse fato, deplorado por uns como um sintoma de patologia da pol√≠tica contempor√Ęnea, visto como um sinal de vitalidade da democracia por outros, tem, no entanto, um registro comum: a invas√£o da vida social pelo Direito seria uma resposta ao esvaziamento da rep√ļblica, dos seus ideais e institui√ß√Ķes, muito especialmente a partir dos anos 1970, quando a emerg√™ncia triunfante do neoliberalismo, com suas concep√ß√Ķes de um mercado autorregulado, importou o derruimento da arquitetura do Estado de Bem-Estar Social.
Esse tipo de Estado - n√£o importam, aqui, considera√ß√Ķes sobre o seu anacronismo na realidade de hoje -, em raz√£o da sua forma espec√≠fica, estava sustentado na organiza√ß√£o pol√≠tica e sindical das diferentes partes da sociedade, cada qual identificada com seus interesses e projetos de uma vida boa, tal como expressos em seus partidos e sindicatos. O parlamento era uma de suas arenas, e, outra, n√£o menos relevante, a das suas corpora√ß√Ķes e das disputas entre elas realizadas no interior do Estado e sob sua arbitragem, da√≠ devendo resultar um "capitalismo organizado" orientado para o bem comum. Nesse sentido, o Welfare State foi republicano e se assentou sobre as suas principais institui√ß√Ķes.
A imposição do neoliberalismo provocou a diluição das formas de solidariedade social que, de algum modo, o Welfare induzia, levando a uma intensa fragmentação da vida social, à desregulamentação de direitos, ao esvaziamento de partidos e sindicatos, que, ao lado de outros processos societais relevantes, foram fatores decisivos para que o Judiciário viesse a se converter em um novo lugar não só para a defesa de direitos, como também para sua aquisição.
O pr√≥prio legislador, consciente do quanto a sociedade se tinha tornado vulner√°vel diante do Estado e das empresas, vai fortalecer esse movimento a fim de lhe fornecer recursos de defesa, dando partida, assim, ao que se denominou a revolu√ß√£o processual do Direito, cujo marco mais representativo foi a cria√ß√£o da a√ß√£o civil p√ļblica e, mais √† frente, a institucionaliza√ß√£o de c√≥digos do consumidor, passando a admitir a√ß√Ķes por parte de entes coletivos. No caso, uma das inten√ß√Ķes impl√≠citas do legislador foi a de tentar reanimar a vida republicana em cen√°rios alternativos aos da representa√ß√£o pol√≠tica. Nesse novo registro, a rep√ļblica passa a ser tensionada por press√Ķes de sentido democratizador que visam¬†√† conquista de novos direitos - o da inf√Ęncia, o da mulher, o do deficiente f√≠sico, o da cidade, o do ambiente, etc. -, que s√£o postos sob a tutela do poder judicial.
O caso brasileiro se alinha a essas tend√™ncias que mant√™m sob tens√£o as rela√ß√Ķes entre rep√ļblica e democracia, mas certamente √© singular. Em primeiro lugar, porque a rep√ļblica, aqui, nasce sem participa√ß√£o popular, filha que √© da elite olig√°rquica de senhores de terras, refrat√°ria, ao longo de tr√™s d√©cadas, √† incorpora√ß√£o dos seres sociais que emergiam do mundo urbano-industrial. A incorpora√ß√£o deles come√ßa com a Revolu√ß√£o de 1930, quando se cria um sistema de direitos sociais em favor dos assalariados urbanos - n√£o extensivo aos trabalhadores do campo -, mas que, em contrapartida, suprime a autonomia das suas associa√ß√Ķes e as p√Ķe sob tutela estatal .
Vale dizer, a rep√ļblica se "amplia", mas n√£o se democratiza, persistindo como assunto de poucos.
A democratiza√ß√£o da vida social √© fato recente entre n√≥s, e segue seu curso de modo cada vez mais intenso. Contudo, o problema agora se inverte: se temos democracia, estamos longe da rep√ļblica. N√£o h√° rep√ļblica sem vida ativa da cidadania na esfera de uma livre sociedade civil, protegida das pol√≠ticas de coopta√ß√£o do Estado e do poder do dinheiro. O constituinte de 1988 foi um bom int√©rprete da nossa realidade pol√≠tico-social ao dotar a sociedade de meios, inclusive judiciais, para a defesa da sua rep√ļblica, entre os quais o minist√©rio p√ļblico e a justi√ßa eleitoral. O legislador n√£o menos, quando criou a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A democracia de massas n√£o pode abdicar da rep√ļblica, uma vez que, sem ela, √© presa f√°cil para interven√ß√Ķes messi√Ęnicas, quando a decis√£o de um pode se justificar em nome do interesse geral de que ele seria o int√©rprete privilegiado. As elei√ß√Ķes que se avizinham, mais uma vez, v√£o confrontar programas dos candidatos em torno de quest√Ķes substantivas de relev√Ęncia indiscut√≠vel, como educa√ß√£o, sa√ļde, emprego e renda, mas a eles n√£o pode faltar mais, como nas elei√ß√Ķes anteriores, o tema da rep√ļblica e da auto-organiza√ß√£o da cidadania. J√° s√£o d√©cadas de moderniza√ß√£o, chegou a hora do moderno.
----------
Luiz Werneck Vianna é professor da PUC-Rio e ex-presidente da Anpocs.