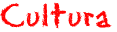 |
Depoimento de Iacyr Anderson de Freitas
|
 |
 "Na verdade, nascemos a posteriori", disse Murilo. Como poeta, nasci
dezessete anos depois da primeira pe?a de fic??o que foi o meu registro
civil. Em Juiz de Fora. Pe?a de fic??o, meu registro civil? Explico melhor: para homenagear minha
av? materna, vinda ao mundo a 22 de setembro, meu pai declara ao oficial do
cart?rio que meu nascimento se deu naquela data. Resultado: nasci
oficialmente dois dias antes do meu nascimento. Sou oficialmente mais velho
do que eu mesmo.
"Na verdade, nascemos a posteriori", disse Murilo. Como poeta, nasci
dezessete anos depois da primeira pe?a de fic??o que foi o meu registro
civil. Em Juiz de Fora. Pe?a de fic??o, meu registro civil? Explico melhor: para homenagear minha
av? materna, vinda ao mundo a 22 de setembro, meu pai declara ao oficial do
cart?rio que meu nascimento se deu naquela data. Resultado: nasci
oficialmente dois dias antes do meu nascimento. Sou oficialmente mais velho
do que eu mesmo.
Chego enfim a Juiz de Fora. Conhe?o o inverno e sua chuva mi?da. Mi?da e intermin?vel. O passo domado do Paraibuna, a Rua Halfeld, o morro do Imperador, o molde grave dos casar?es do Bairro Granbery, o tanque de guerra que ainda sitiava, na pra?a deserta, o cad?ver cujo nome recusamos. Cujo nome era nume e n?mero: 1964. Conhe?o ruas vincadas no asfalto. At? ent?o, para mim, asfalto era coisa estradeira. Como um tapete que indicasse, de soslaio, dist?ncias superlativas. N?o prestava bem para dividir vizinhan?a. Depois descobri que fazia sentido. Que era de asfalto tamb?m o terreno entre uma porta e outra, entre os c?modos de um mesmo apartamento, entre as pessoas que por ele transitavam. Era de asfalto a dist?ncia entre palavra e gesto, entre um afeto e sua louca aus?ncia de resposta.
Ingresso numa cidade que tamb?m estava de mudan?a. A terra que perdera seus pianos perdia agora, sem pesar, seu passado. Palacetes, casar?es e casebres voltavam ao p? original. Onde outrora recitais dom?sticos, britadeiras e tratores maceravam, sem cessar, o morro do Imperador, o morro da Gratid?o, a encosta de S?o Bernardo: m?sica demudada.
Usina de marmelos: primeira hidrel?trica da Am?rica do Sul. Cortadas as linhas de transmiss?o, permanece ? deriva no oceano de Minas. Um bra?o do Paraibuna agarra-se ao casco do velho pr?dio. Toda a constru??o lembra antes uma casa-comum, um avesso dejet?rio. Latrina que retirasse das ?guas um min?rio de luz e ramagem. Maquin?rio aposentado, enfim, e a energia do lugar n?o aquece mais a cidade. Fica por ali, entre as pedras, ao lado do rio que segue desfiladeiro abaixo. Na margem direita do rio que morre. Sozinha, matutando.
Italianos, libaneses, s?rios, alem?es, portugueses, africanos, chineses, espanh?is, coreanos. Uma cidade feita de cidades que fugiram. Em mosaico. Aluno aqui, meti no embornal, a custo, essa deliciosa did?tica da diversidade.
Uma parte de qualquer cidade fica sempre submersa. Sempre ? margem da hist?ria. Olho a Cia. T?xtil Bernardo Mascarenhas, a Cia. Pantaleone Arcuri, os sobrados suntuosos, um ou outro pr?dio comercial do velho conjunto da Pra?a da Esta??o. Nada resta, no entanto, da Vilagem da Col?nia Dom Pedro II e das demais vilagens. Nenhum registro f?sico. Nenhuma lembran?a do percurso oper?rio e escravo por estas terras, da "escritura dos escassos", do trabalho infantil que me chega assim queimando na forja viva de velhas fotografias. Implac?vel, o patrim?nio industrial demite da Hist?ria, por fim - e sem justa causa -, seus empregados.
 Estando a servi?o no pontal do Tri?ngulo mineiro, aproveito todas as folgas
para voltar a Juiz de Fora. Desfrutando ent?o de uma dessas folgas, come?o
a observar, sem compreender direito, o desmonte da cidade que Pedro Nava
me doara. De um ?nibus urbano, que cruzava rio acima a Avenida Rio
Branco, vejo alguns oper?rios retirando, com cuidado, as telhas da
capelinha do Stella Matutina. Retorno feliz para o batente l? no
nariz das Gerais: eis que v?o reformar o santu?rio. Quando passo de novo
pelo local, alguns meses depois, n?o encontro mais a capela. No lugar, sem
se dar conta do ocorrido, o esqueleto de mais um centro empresarial. Reto e
est?pido como todos os demais, ostentando o fraque fascista da nossa
modernidade. Fazia calor naquele dia. Coisa de quarenta graus. Falei
comigo: meu Deus, essa cidade tem febre.
Estando a servi?o no pontal do Tri?ngulo mineiro, aproveito todas as folgas
para voltar a Juiz de Fora. Desfrutando ent?o de uma dessas folgas, come?o
a observar, sem compreender direito, o desmonte da cidade que Pedro Nava
me doara. De um ?nibus urbano, que cruzava rio acima a Avenida Rio
Branco, vejo alguns oper?rios retirando, com cuidado, as telhas da
capelinha do Stella Matutina. Retorno feliz para o batente l? no
nariz das Gerais: eis que v?o reformar o santu?rio. Quando passo de novo
pelo local, alguns meses depois, n?o encontro mais a capela. No lugar, sem
se dar conta do ocorrido, o esqueleto de mais um centro empresarial. Reto e
est?pido como todos os demais, ostentando o fraque fascista da nossa
modernidade. Fazia calor naquele dia. Coisa de quarenta graus. Falei
comigo: meu Deus, essa cidade tem febre.
Das poucas coisas de valor que tenho em meu curr?culo, sublinho particularmente as amizades que Juiz de Fora me concedeu. Fernando Fiorese, Edimilson, Ruffato, Sanglard, S?rgio Kleinsorge, Z? Santos, Polidoro, Mutum, Luizinho Lopes, Breno Chagas, Mary e Eliardo Fran?a e muitos outros da irmandade. N?o posso me esquecer aqui, ? claro, de Ruy Merheb. Certo dia, numa mesa de bar, Eliardo Fran?a me confia uma frase lapidar do Ruy: "Juiz de Fora foi para o s?culo XIX o que Ouro Preto foi para o s?culo XVIII". Talvez seja esse o mote da declara??o de amor de Manuel Bandeira. Declara??o que, infelizmente, a cidade n?o soube ou n?o quis compreender.
Numa fachada do Po?o Rico, num resto de nome que ? o Alto dos Passos, nos belos casar?es da Rua Esp?rito Santo, nos locais mais estranhos e inesperados, a velha Juiz de Fora, a Juiz de Fora arquet?pica me toma. Em mim ent?o se acende, inteira e nua: esse era o casario que Nava guardou no seu ba? de ossos, esse o caminho que levava ? casa de Lindolfo Gomes, com esta coluna o menino Murilo deve ter mantido um dedo de prosa. Aqui, exatamente neste lugar, Belmiro Braga colocava o busto de Oscar da Gama a par dos burburinhos da terra. Bilac ca?ou esmeraldas nesta pra?a. Jos? Freire e S?lvio Romero cruzaram este p?tio de pedra. Sentaram-se ali. Fazia frio ent?o. O sol vazou por aquela janela.
Al?m dos amigos, Juiz de Fora me deu tamb?m, naturalmente, alguns poemas. A imagem de um milico na pra?a da Escola Normal, pegando em armas contra o sol in?til de uma tarde domingueira, me trouxe "O soldado" :
|
Guarne?o os ?ltimos dias nessa pra?a. N?o h? trincheiras, Desarma as flores Guarne?o a aus?ncia do embate. Atiro contra o aceno da noite, o assalto das aves, esse perigo que desce das escrituras, mas inexisto como a guerra: seu perfume ? minha mortalha Estou sozinho de mim As aves me fitam Um santu?rio sem grandeza, A quem protejo A guerra n?o veio. O sol n?o me defende Os passantes giram: decerto Guarne?o o monumento A primavera escapa O monumento monta guarda Sozinho
|
O testemunho de uma chuva colossal sobre o dorso do mirante de S?o Bernardo, sacudindo a cidade qual um len?o, plantou na minha bibliografia "Uma ?rvore", poema que dediquei a outro amante de Juiz de Fora, o grande amigo e escritor Jos? Afr?nio Moreira Duarte:
|
A ?nica imagem pessoal: aquela ?rvore sob a chuva, impass?vel e dura. A cidade ? deriva, Casas com ?ncoras nos batentes. Uma densa parede sela a vista. Mesmo a topografia se curva Alheia ao desespero, Impass?vel em sua met?fora, entregue estar na chuva, sob o jugo,
|
Outros poemas nasceram do mesmo tronco. Alguns me sondam ainda, de esguelha. Certo dia encontro, num restaurante, uma antiga foto da ?rea central da cidade. Uma foto feliz: l? estava a grandeza de uma manh? extraviada h? cem anos. Uma manh? que houve e que, como diria Gullar, n?o mais nos ouve. Que a custo resiste, acesa ainda, sobre o papel ceifado em s?pia: representa??o corporal do invis?vel. Amanhecendo. Eternamente amanhecendo. A esse alumbramento devo o parto do "Vig?simo terceiro mirante":
|
N?o olhes. Uma t?o grande beleza jamais poderia acabar assim. Se mesmo Tr?ia n?o teve defesa, como entender, como explicar tal fim? N?o olhes nunca esse velho retrato. Nele, do que h? de vida te compenses em testemunho, fulgor sem recato da grandeza que esplende os seus pertences. Tudo passou. Resta uma n?usea agora. Uma lembran?a que estremece as lou?as, o ar, a pr?pria vis?o que se evapora. Teu grande assombro n?o cabe nas bolsas da inf?ncia. Na esta??o, divide a aurora o mesmo grito de outrora. N?o o ou?as.
|
Sim, ? melhor n?o ouvir, na Pra?a da Esta??o, o casario que aflora com seu canto ser?fico de mil sereias conjugadas. Canto pleno, de orfandade e desapari??o.
H? cidades que n?o v?m ? tona. Ficam em n?s, eternamente submersas. H? lugares para a alma somente. Para o soldo e o sonho. H? quintais cujos frutos fendem o fel com sua ?ncora. Mapas que se movem pelo mobili?rio do corpo adentro. S?o a mem?ria viva do que n?o vivemos. Cidades sibilantes, submersas.
Como ia dizendo: assalta-me sempre a imagem da antiga cidade. Da que n?o conheci e que, estrangeira, me habita. Ela passeia em mim seus bondes e ruas. Seus parques e jardins sobrenaturais. Assenta em mim sua geografia. Arreda os outros lugares todos da mem?ria. Talvez tenha sido por isso que, engenheiro do ar, fundei numa p?gina qualquer de A soleira e o s?culo, por entre rios que me espreitavam da inf?ncia, "Uma cidade":
|
a cidade que celebro nunca me soube nela me banho nos seus rios sem fonte ou foz nos sobrados que correm sobre trilhos (verticais na carne e no esp?rito) no cheiro morto do milho do feij?o bravo com cravo e couve celebro em mim
|
Iacyr Anderson Freitas
Leia mais:
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!